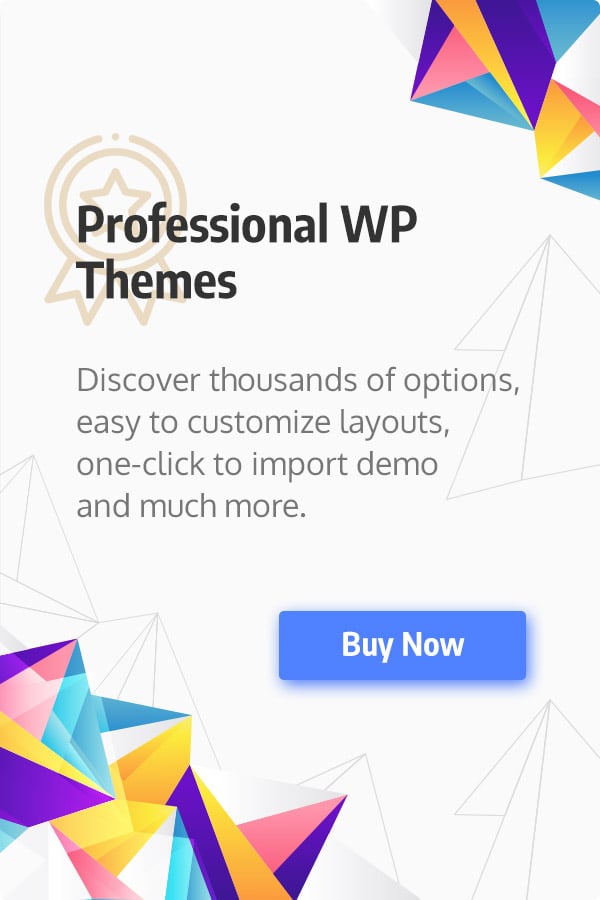Com os olhos do mundo voltados para Belém e para a COP 30, a América Latina enfrenta um momento decisivo em sua trajetória energética e climática. A região é frequentemente elogiada por sua abundância em fontes renováveis — hidrelétrica, solar e eólica, mas sob essa superfície “verde” persiste um paradoxo: a dependência de combustíveis fósseis, o desmatamento e as profundas desigualdades sociais continuam a moldar seu cenário energético.
Ao longo da última década, os países latino-americanos assumiram compromissos ousados no âmbito do Acordo de Paris, apresentando e atualizando suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). A maioria prometeu expandir as fontes renováveis e alcançar a neutralidade de carbono até meados do século. No entanto, como mostramos em nossa pesquisa “Climate commitments and energy transition pledges in Latin America: Where is the region headed?”, esses compromissos frequentemente coexistem com políticas que ainda favorecem o petróleo, o gás e a mineração — um “paradoxo extrativista” que define boa parte do modelo de desenvolvimento da região.
A transição energética latino-americana vai muito além da simples substituição de combustíveis fósseis por painéis solares ou turbinas eólicas. Trata-se, antes, de uma disputa entre modelos de desenvolvimento, governança e justiça. Embora países como Chile, Brasil e Uruguai tenham se destacado como líderes em energia renovável, outros seguem fortemente dependentes de fontes fósseis. Mesmo as energias limpas, como a hidrelétrica, estão cada vez mais ameaçadas por secas, conflitos sociais e degradação dos ecossistemas.
No cerne desse desafio está uma dependência histórica do extrativismo — a exploração em larga escala de recursos naturais voltada à exportação. Seja nos campos de petróleo, nas minas de lítio ou nas plantações de soja, o extrativismo sustentou o crescimento econômico, mas também aprofundou desigualdades e degradação ambiental. A nova economia “verde” corre o risco de reproduzir esses padrões sob uma nova face, o chamado neoextrativismo, à medida que potências globais competem pelos minerais críticos da região, essenciais para as tecnologias renováveis.
Com a COP 30 realizando-se na Amazônia, essa contradição torna-se ainda mais simbólica. O Brasil recolocou a política climática como prioridade nacional, criando a Secretaria de Transição Energética, lançando a Política Nacional de Transição Energética e anunciando metas ambiciosas de descarbonização. Contudo, novos projetos de exploração na Bacia Amazônica mostram que as pressões econômicas ainda colidem com os limites ecológicos. A floresta, que deveria simbolizar a esperança global de ação climática, segue sob ameaça do mesmo modelo de desenvolvimento que a transição afirma querer superar.
Essa tensão se repete em toda a América Latina. Embora os governos adotem o discurso do “crescimento verde”, continuam a sustentar estruturas extrativistas que há décadas produzem desigualdade, dependência e zonas de sacrifício. Projetos de petróleo, gás e mineração seguem em expansão, agora rebatizados como pilares da “economia verde”. Essa nova retórica corre o risco de se tornar um disfarce para o velho extrativismo — sustentável no discurso, mas baseado na mesma lógica de exploração.
Olhar para o passado para entender o presente
Para compreender por que essa transformação é tão difícil, é preciso revisitar a trajetória histórica da região.
Nas décadas de 1960 e 1970, muitos governos latino-americanos adotaram a ideia de que “a pior poluição é a pobreza”. O crescimento econômico era promovido como caminho para o progresso social e, em última instância, para a melhoria ambiental. O Modelo Mundial Latino-Americano da Fundação Bariloche, desenvolvido em resposta ao relatório “Limites ao Crescimento” do Clube de Roma, trouxe uma crítica mais sofisticada: argumentava que os verdadeiros limites do planeta eram institucionais e distributivos, enraizados na desigualdade global e em estruturas de poder injustas — e não na capacidade física da natureza. Sob essa ótica, a degradação ambiental não era um resultado inevitável do desenvolvimento, mas sim um reflexo de assimetrias sociais e políticas.
Essa lógica ficou evidente na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972, em Estocolmo, quando várias delegações latino-americanas — especialmente o Brasil — defenderam o direito à industrialização e argumentaram que a preocupação ambiental não deveria limitar o crescimento. O governo militar brasileiro da época chegou a convidar indústrias poluentes de países desenvolvidos a se instalarem no país, apresentando-o como um território com “espaço para o desenvolvimento”.
Com o tempo, contudo, essa leitura foi distorcida e instrumentalizada. Elites políticas e econômicas reduziram a mensagem de Bariloche a uma justificativa para a primazia do crescimento econômico, usando o combate à pobreza como argumento para adiar ações ambientais mais firmes.
Assim, uma visão originalmente fundada em justiça social e reforma institucional foi transformada em uma defesa do crescimento a qualquer custo, moldando o paradigma de desenvolvimento da região e reforçando a dependência que ainda hoje condiciona suas políticas ambientais e energéticas.
Emissões: progresso com anomalias persistentes
Nossa pesquisa evidencia essa contradição nas tendências de emissões. O perfil latino-americano de gases de efeito estufa (GEE) difere fortemente do padrão global. Enquanto no mundo as emissões são dominadas pelo setor de energia, na América Latina a agricultura e as mudanças no uso da terra — especialmente o desmatamento — ainda representam grande parte das emissões.
Entre 1990 e 2021, as emissões per capita de uso da terra e florestas (LUCF) caíram de 3,65 tCO₂e para 1,23 tCO₂e, uma redução expressiva, mas ainda muito acima da média global de 0,17 tCO₂e. Já as emissões energéticas aumentaram de 2,57 tCO₂e em 1990 e 2,64 tCO₂e em 2021, evidenciando a dificuldade de dissociar crescimento econômico e consumo de combustíveis fósseis. É o que pesquisadores chamam de “anomalia das emissões” latino-americana: uma região simultaneamente renovável e intensiva em carbono, onde hidrelétricas e bioenergia coexistem com desmatamento, extração de petróleo e emissões do setor de transportes.
O caso do Brasil é ilustrativo. Segundo a 13ª edição do SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de GEE), o país reduziu suas emissões em 41%, um avanço relevante, mas ainda aquém da meta de 48% estabelecida no Acordo de Paris. O aumento das emissões do setor energético em 2024 sugere que ainda é necessária atenção nessa área para alinhar a expansão econômica com as metas climáticas.
Políticas e instituições: ambições altas, implementação frágil
Desde a década de 1990, quase todos os países da região criaram ministérios ambientais, aprovaram leis climáticas nacionais e apresentaram suas NDCs. Essa arquitetura institucional demonstra vontade política, mas sua aplicação segue frágil. Fiscalização deficiente, governança fragmentada e curtos ciclos políticos comprometem a consistência das ações climáticas.
Muitas estratégias são não vinculantes ou dependem de instituições subfinanciadas. Mudanças de governo, crises fiscais e revezes ideológicos dificultam o planejamento de longo prazo. O resultado é uma região rica em compromissos, mas pobre em continuidade, onde avanços institucionais convivem com instabilidade estrutural.
Essa fragilidade é especialmente visível nos países amazônicos, onde decisões políticas têm agravado a crise ambiental. No Brasil, cortes orçamentários e o enfraquecimento de órgãos como o IBAMA alimentaram o desmatamento, a mineração ilegal e a grilagem de terras, muitas vezes toleradas por elites locais. Na Bolívia e em outros países, políticas de expansão agropecuária — especialmente de soja e pecuária — intensificaram o desmatamento e os incêndios em áreas sensíveis. Em outras partes da Amazônia como no Peru, a ausência do Estado abriu espaço para crimes ambientais e exploração predatória.
Essas tendências demonstram que a governança climática latino-americana é tanto um desafio político quanto institucional. Governos frequentemente priorizam o crescimento e a competitividade das exportações, flexibilizando salvaguardas ambientais para atrair investimentos. Como resultado, a governança oscila entre ambição retórica e dependência extrativista.
Compromissos de transição energética: entre inovação e extrativismo
A América Latina é frequentemente apresentada como líder emergente em energia limpa. Sua matriz elétrica já é cerca de 60% renovável, e países como Uruguai, Chile e Brasil se tornaram referências em energia eólica, solar e biocombustíveis. Contudo, transporte e indústria respondem juntos por 67% das emissões de CO₂ relacionadas à energia — os setores onde a mudança é mais desafiadora.
O setor de transportes, sozinho, emite 41% do total de CO₂, devido à predominância do transporte rodoviário de cargas e de veículos movidos a combustíveis fósseis. Isso torna essenciais os investimentos em mobilidade elétrica, transporte público urbano e logística sustentável. As emissões industriais, por sua vez, exigem políticas que promovam a eficiência, a produção mais limpa e modelos de economia circular.
Entretanto, a transição energética na América Latina permanece refém do poder do setor fóssil, que conserva forte influência política e concentra vultosos investimentos. Petróleo e gás seguem como pilares fiscais de muitas economias, reforçando uma dependência de trajetória (path dependence) que retarda a descarbonização. Empresas estatais, investidores privados e até organismos multilaterais — como a OLADE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras instituições — frequentemente promovem o gás natural como “combustível de transição”, legitimando novos investimentos fósseis sob o discurso da mudança gradual. Embora apresentada como pragmática, essa estratégia pode aprisionar a região em mais uma geração de infraestrutura intensiva em carbono, desviando recursos de transformações estruturais urgentes — como políticas de inovação mais ousadas, estratégias industriais de longo prazo e avanços tecnológicos em armazenamento de energia, eficiência energética, eletrificação do transporte e descarbonização da indústria pesada.
Além disso, a dependência tecnológica aprofunda a vulnerabilidade da região: a maior parte das tecnologias necessárias para a transição — dos painéis solares às baterias — ainda é importada, perpetuando assimetrias e limitando o desenvolvimento de capacidades locais.
Ao mesmo tempo, cresce a mineração de lítio, cobre e níquel — recursos essenciais para tecnologias limpas, mas frequentemente associados a conflitos socioambientais. Esse fenômeno, conhecido como “extrativismo verde”, repete o velho padrão de exportar matérias-primas e importar valor agregado, reproduzindo a lógica histórica de dependência e desigualdade sob um novo discurso de sustentabilidade.
Mesmo dentro da agenda renovável, a América Latina corre o risco de reproduzir desigualdades históricas: uma transição conduzida por setores poderosos, orientada para exportação e desconectada da inclusão social. Por exemplo, o foco do Chile na exportação de hidrogênio verde ilustra como a estratégia de energias renováveis da região frequentemente prioriza a demanda externa em detrimento da equidade e acessibilidade energética interna.
COP 30: Um ponto de virada simbólico para a região?
Sediada em Belém, na Amazônia, a COP 30 carrega um significado especial e profundamente simbólico. Nesse contexto, a América Latina se encontra diante de um ponto de inflexão histórico: continuará seguindo sua trajetória de extração e exclusão, ou ousará traçar um novo caminho, capaz de colocar os ecossistemas, a diversidade e a justiça social acima dos ganhos imediatos e de curto prazo?
Essa transição não significa abrir mão do desenvolvimento, mas repensar profundamente o modo de fazê-lo. É o momento de promover modelos de negócios sustentáveis que reconheçam e valorizem os ativos naturais — as florestas em pé, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos — como pilares de uma nova economia latino-americana. O verdadeiro desafio é gerar prosperidade sem destruir a base que a sustenta, estimulando inovação, finanças verdes, bioeconomia e cadeias de valor inclusivas, orientadas por uma nova mentalidade empresarial e institucional.
A questão central não é apenas a velocidade da transição, mas o seu propósito: que tipo de transição estamos construindo — e para quem? Que tipo de futuro estamos, de fato, projetando? Energia para quê e para quem?
A resposta revelará se a região será capaz de romper com sua dependência histórica, transformando seu patrimônio natural em vantagem estratégica, ou se continuará presa a um modelo que promete progresso enquanto reproduz desigualdade e destruição ambiental. O dilema é se a América Latina liderará uma nova era de desenvolvimento sustentável, ou permitirá que a chamada “transição” se converta apenas em um novo nome para o velho extrativismo?