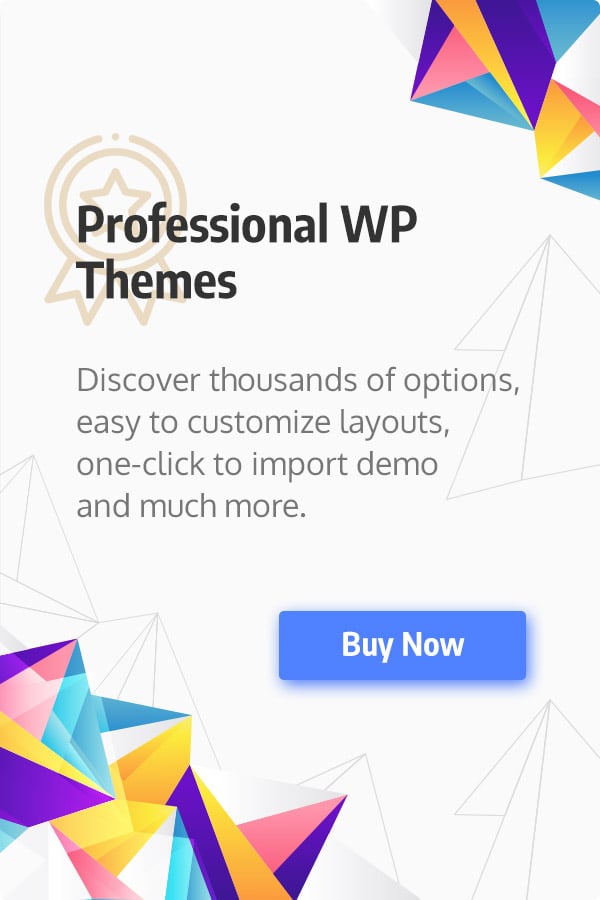Em recente pesquisa sobre a imagem internacional do Estado de Israel realizada com cidadãos de 24 países pelo Pew Research Center – think tank americano independente e apartidário que realiza pesquisas de opinião em todo o mundo sobre questões relevantes da agenda global -, 58% dos brasileiros entrevistados demonstraram ter, em maior ou menor grau, uma visão negativa do país. E um percentual ainda maior, 63%, afirmou não confiar no Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu. Porém, expressivos 32% veem Israel de forma positiva, apesar das repercussões desfavoráveis das ações militares israelenses em Gaza, e do crescente clamor da opinião pública internacional em relação à tragédia humanitária em curso naquela região.
Esses 32% de brasileiros que apoiam Israel certamente estavam representados por boa parte milhares de pessoas que no último dia 19 de junho participaram da 33ª edição paulistana da “Marcha para Jesus”, evento que ocorre desde 1993 e que a partir de 2009 passou a fazer parte do calendário oficial do país.
Tendo sua origem no Reino Unido, na segunda metade dos anos 1980, a marcha chegou ao Brasil por iniciativa do Apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, e atualmente ocorre em dezenas de cidades de todos os estados da federação. Refletindo o crescimento exponencial das Igrejas Evangélicas no país nas últimas décadas, notadamente as denominações de matriz pentecostal ou neopentecostal, a cada ano o número de participantes das várias Marchas que ocorrem por todo Brasil se amplia.
A edição paulistana deste ano reuniu cerca de dois milhões de pessoas, segundo os organizadores. E para além da manifestação da fé, a marcha tem servido como demonstração da força política de um segmento religioso que vem se constituindo em uma das principais bases sociais do bolsonarismo. Convergindo com as posições do ex-presidente em relação às pautas de costumes e à defesa dos “valores tradicionais”, a maior parte dos evangélicos também se aproxima da agenda da ultradireita em outro ponto: o apoio incondicional ao Estado de Israel.
Na marcha do dia 19 de junho, em meio à multidão avistavam-se inúmeras bandeiras de Israel, muitas combinadas com roupas e bandeiras verde a amarelas, além de faixas com frases em hebraico. Muitas vezes, essas frases também eram cantadas e gritadas como palavras de ordem. Assim, a “Marcha para Jesus” acabou por tornar-se uma vitrine do chamado “sionismo cristão”, uma vertente evangélica que vincula a existência do Estado de Israel ao cumprimento de profecias bíblicas e que, em seu extremo, faz com que lideranças neopentecostais se vistam como rabinos.
Essa fusão simbólica entre neopentecostalismo e Israel não é algo novo, mas tem ganhado espaço significativo nas últimas décadas. Especialmente entre grupos religiosos ligados à direita cristã nos EUA e mais recentemente, no Brasil. Não por acaso, um dos primeiros oradores a falar no palco da marcha de São Paulo foi o pastor Larry Huch, um dos principais representantes do sionismo cristão norte-americano e autor de obras como “A benção da Torá”, que em seu discurso afirmou que “quem abençoa Israel é abençoado”.
Por que Israel?
A aparente contradição no apoio de grupos cristãos ao sionismo é, na verdade, desfeita quando se compreende a natureza do chamado “sionismo cristão”. Ele tem como uma de suas principais bases o dispensacionalismo, movimento religioso surgido na Inglaterra oitocentista e que se expandiu rapidamente nos EUA entre as útimas décadas do século XIX e as primeiras do XX.
O dispensacionalismo não se constitui em uma denominação evangélica específica, mas em um sistema teológico com adeptos entre protestantes, pentecostais e neopentecostais que tem como um de seus pontos centrais a crença na segunda vinda de Cristo como um acontecimento futuro que ocorrerá no mundo físico.
A teologia dispensacionalista também crê que a existência de Israel é uma condição para a volta de Jesus. Defender Israel, nesse sentido, é defender o plano divino.
Para muitos evangélicos estadunidenses e brasileiros, o Estado de Israel é mais do que uma nação: é o cenário do retorno messiânico. Essa defesa incondicional e apaixonada, no entanto, não se baseia em uma aproximação com o judaísmo como religião ou cultura, mas em uma leitura específica da Bíblia que instrumentaliza Israel como peça-chave de um futuro apocalíptico.
Não é de se espantar, portanto, que a maior organização sionista do mundo nos dias de hoje não seja formada por judeus, mas sim por evangélicos: é a “Cristãos Unidos por Israel”, com mais de dois milhões de membros.
O problema é que o sionismo cristão esconde, por trás dessa devoção a Israel, uma lógica que, na prática, tem traços profundamente antissemitas, embora à primeira vista pareça expressar simpatia e apoio aos judeus. Como já apontaram autores como o historiador Shlomo Sand, a narrativa dispensacionalista enxerga os judeus não como sujeitos de fé legítimos, mas como peças de uma engrenagem escatológica. O objetivo final não é a convivência pacífica entre judeus e cristãos, mas a conversão total dos primeiros ao cristianismo. Ou seja: Israel é exaltada, mas os judeus, enquanto tais, estão destinados ao desaparecimento ou à conversão forçada.
Como assinala Sand, em seu clássico livro “A Invenção da Terra de Israel”, aqueles que recusarem a conversão mesmo assim, “devem por fim pagar o preço, isto é, desaparecer e arder no inferno”. O entusiasmo não é pelo judaísmo, mas pelo seu fim.
Em “O novo conservadorismo brasileiro”, Marina Basso Lacerda reitera que, para esta doutrina, o retorno de Cristo e o apocalipse ocorreriam uma geração após o retorno de judeus a Israel: “Assim, a criação do Estado de Israel em 1948 foi vista como um sinal. Acreditava-se que a Batalha Final seria lançada por uma invasão da URSS — nação tida como “ateia e pecadora” — contra Israel”. “Essa crença” – continua a autora – “teria sido expressa até mesmo por Ronald Reagan. Daí a intensa atenção da direita cristã à política do Oriente Médio”.
Logo, para muitas correntes neopentecostais, a sobrevivência de Israel em meio a guerras, escassez de recursos naturais e tragédias históricas seria a prova cabal de que ali haveria uma intervenção divina.
O bolsonarismo e a instrumentalização política da Israel imaginária
Todos esses elementos constaram em um discurso do então deputado Jair Bolsonaro no plenário da Câmara em 2017, durante uma sessão em homenagem à criação do Estado de Israel. Um ano antes, mesmo continuando a se declarar católico, Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo Dias Pereira, por ocasião de uma viagem para participar das comemorações dos 68 anos da independência do país. O pastor Everaldo é uma das principais lideranças da Assembleia de Deus e foi candidato à presidência da República pelo Partido Social Cristão (PSC), em 2014, obtendo quase 800 mil votos.
Bolsonaro e o Bolsonarismo são exemplos dos usos políticos da Israel imaginária – embranquecida, cristã e à espera da segunda vinda de Cristo -, algo bastante distante de Israel real. Pouco importam as complexidades israelenses, as diversas identidades envolvidas, a questão palestina, as contradições enquanto nação, tudo isso é simplificado em uma visão idealizada do país.
Essa idealização não ocorre no vácuo. Ela serve a um projeto político que, ao longo dos últimos anos, soube se apropriar de símbolos religiosos com eficiência. Em um país onde parte expressiva da esquerda tradicional adotou a causa palestina como símbolo de solidariedade internacional, o Bolsonarismo viu em Israel a oportunidade perfeita para produzir um contraste simbólico. Se os protestos progressistas empunham bandeiras da Palestina, a extrema direita reage com bandeiras de Israel.
Não por acaso, logo após sua vitória nas eleições presidenciais de 2018, Bolsonaro reafirmaria a intenção, já manifestada durante a campanha eleitoral, de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, seguindo o exemplo dos EUA de Donald Trump. Assim, antes mesmo de tomar posse, Jair Bolsonaro criaria a sua primeira crise diplomática – com os países árabes – tendo Israel como pivô. Porém, devido às pressões do agronegócio, outra base social importante do governo Bolsonaro, tal intenção acabaria por não se concretizar, para decepção de seus apoiadores evangélicos.
Pouco tempo depois, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, afirmaria que o Hamas deveria “se explodir”. Essas falas não foram gafes ou desvios pontuais: elas faziam parte de uma estratégia deliberada de antagonizar qualquer símbolo associado à esquerda, mesmo que isso pudesse colocar o Brasil em situações diplomáticas desnecessárias e desagradáveis com parceiros históricos do mundo islâmico.
Por isso, não é de se estranhar o fato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ter cantado louvores cristãos enrolado em uma bandeira de Israel na “Marcha para Jesus”, ao lado do prefeito paulistano e seu aliado político, Ricardo Nunes. Cultivando uma imagem mais moderada e palatável do que a de Jair Bolsonaro, e provável candidato à presidência da República em 2026, Tarcísio procura manter e ampliar a relação construída por seu mentor com as bases evangélicas, onde o sionismo cristão tem grande peso.
E embora a pesquisa do Pew Research Center não tenha feito essa mensuração, não deixa de ser interessante notar que o percentual de brasileiros que tem uma visão positiva de Israel (32%) é bem próximo daquele dos que se autoidentificam como “bolsonaristas” (35%), segundo recente pesquisa do Datafolha. Mesmo com as duas pesquisas tendo sido realizadas em períodos temporais diferentes e com objetivos, metodologias e amostragens distintas, essa aproximação é digna de atenção.