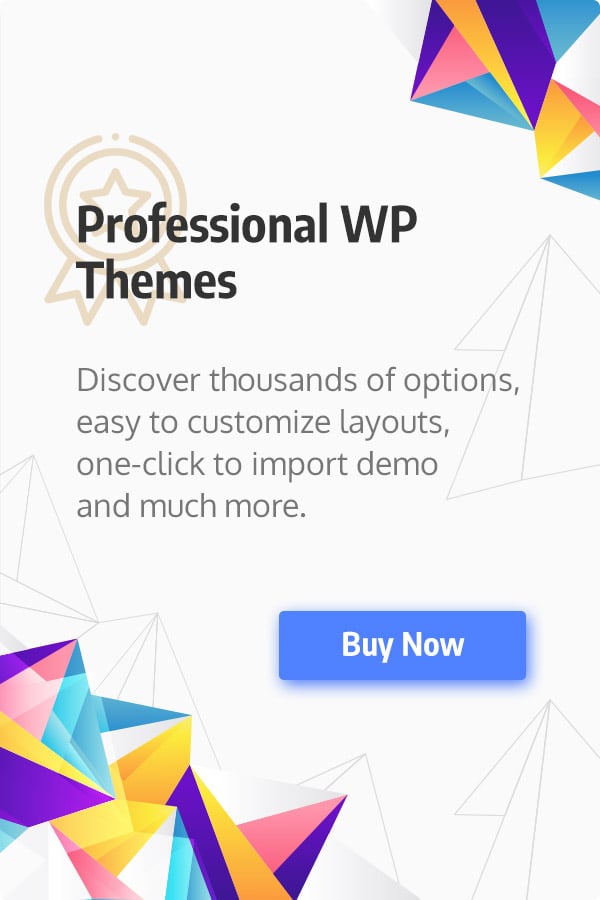Estamos às véperas da COP 30 e o Brasil ainda convive com um dilema persistente: como conciliar crescimento econômico, preservação ambiental e justiça social em um território vasto e desigual?
Como pesquisador do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, vejo como essencial destacar a importância do ponto de vista geopolítico nesse debate.
Em uma pesquisa recente, discuto como a trajetória das políticas públicas ambientais no país mostra avanços relevantes, mas também revela diversos atrasos que persistem. Eles são acentuados pela forma como o nosso país é demarcado e legislado, na forma de federação.
Portanto, é preciso aproveitar essa oportunidade para repensar novas maneiras de gerenciar as desigualdades territoriais. Afinal, para avançarmos no debate ambiental, é imprescindível melhorar a relação entre União, estados, municípios, além de ampliar o protagonismo social, principalmente nos espaços cotidianos da vida do homem comum.
O início tardio
As políticas ambientais no Brasil se desenvolveram mais tarde que em outras áreas e, em boa medida, como resposta a pressões externas. Os primeiros debates institucionais surgiram nos anos 1960, ainda durante a ditadura militar (1964–1985). Naquele contexto, a questão ecológica era tratada sobretudo como estratégia de soberania nacional.
A Amazônia, por exemplo, era vista como fronteira geopolítica a ser ocupada por grandes obras de infraestrutura e projetos agrícolas. Já os problemas decorrentes do crescimento urbano descontrolado — poluição, falta de saneamento, destruição de ecossistemas — eram encarados como “males necessários” ao desenvolvimento. Essa perspectiva foi defendida oficialmente pelo governo brasileiro na primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, em Estocolmo, 1972.
Por muito tempo, não havia uma ação governamental coordenada nem uma agência central de supervisão ambiental. O tema era tratado de forma fragmentada, por meio de regulamentações setoriais, como o Código de Águas (1934), o Código Florestal (1965) e as normas de Pesca e Caça (1967). Mesmo com a criação da Secretaria Nacional de Meio Ambiente (SEMA), em 1973, as decisões do regime militar continuaram centralizadas e subordinadas à ideia de “Brasil potência”.
Avanços com a redemocratização
O cenário mudou bastante com a redemocratização. A criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos anos 1980, ampliou a participação de estados, municípios e organizações civis.
A Constituição de 1988 foi um marco: pela primeira vez, o direito a um meio ambiente ecologicamente ‘em equilíbrio’ foi reconhecido como direito de todos e dever do Estado e da sociedade. Isso abriu espaço para que municípios criassem secretarias, conselhos e políticas próprias, descentralizando parte da gestão.
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, consolidou o Brasil como protagonista nas discussões globais. O encontro produziu a Agenda 21, que orientou programas de sustentabilidade em diferentes níveis de governo e reforçou a importância da cooperação internacional.
O desenvolvimento finalmente passou a ser pensado em termos de sustentabilidade socioambiental, com foco no controle da poluição pela gestão urbana. Elementos do cotidiano — água, ar, alimentação, resíduos, áreas de lazer — tornaram-se não só temas de mercado, mas também de cidadania e responsabilidade dos governos locais.
A criação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), nos anos 90, também consolidou o setor como área específica a ser apoiada por políticas públicas. Isso permitiu transferir responsabilidades de planejamento e execução para estados, municípios, ONGs e entidades privadas.
Princípio da descentralização e seus impasses
Outra mudança importante ocorreu em 1997, com a consolidação do licenciamento ambiental, que passou a exigir estudos de impacto para atividades poluidoras.
Assim, criou-se a necessidade de formar especialistas para gerir essas políticas. Isso impulsionou a formação acadêmica de ambientalistas, o que fortaleceu lideranças, aptas a acompanhar a qualidade da gestão em nível local. Então, pela primeira vez, as políticas ambientais começaram a ser adaptadas às demandas regionais.
Porém, os resultados práticos ficaram aquém das expectativas, em meio a disputas políticas, contradições econômicas e pressões sociais. As discussões em outras conferências, como a Rio+10 (em Joanesburgo, 2002) e a Rio+20 (Rio de Janeiro, 2012), ajudaram a produzir um vasto corpo de pesquisas e acordos a partir dos debates entre diversos atores sociais. No entanto, também mostraram que a pobreza, o mau uso dos recursos e a degradação ambiental continuavam como grandes obstáculos.
Afinal, um dos maiores desafios do Brasil é a forma como a gestão ambiental se organiza no pacto federativo. Embora estados e municípios tenham conquistado protagonismo nas últimas décadas, a União ainda concentra boa parte das decisões estratégicas e dos recursos econômicos.
Isso ainda gera tensões recorrentes. Projetos de mineração, hidrelétricas e expansão do agronegócio, aprovados em nível federal, frequentemente entram em choque com demandas locais por preservação ambiental e defesa das tradições locais de povos — incluídos precariamente nas decisões sobre investimentos públicos e privados.
Um futuro em disputa: uma questão federalista na globalização
Para avançar, é preciso incluir a pluralidade de visões sobre o que é “qualidade de vida” no Brasil. Isso significa ampliar o debate sobre populações tradicionais e reconhecer, de forma clara, quais são as concepções de bem-estar para indígenas, quilombolas e comunidades extrativistas.
Também é fundamental que as políticas públicas não se restrinjam às fronteiras legais do federalismo. As decisões devem levar em conta escalas mais próximas da realidade, como bacias hidrográficas e reservas naturais. Nesse sentido, é necessário enfrentar desigualdades territoriais e dar reconhecimento institucional a comitês, consórcios e distritos já engajados na resolução de problemas ambientais.
Essas mudanças exigem repensar a relação entre União, estados e municípios. O sistema atual, fortemente hierárquico, poderia evoluir para uma estrutura mais colaborativa e interdependente. Ao mesmo tempo, o país precisa investir em projetos diversificados de educação ambiental pensados localmente, para apoiar ações públicas mais equânimes, socialmente eficazes e menos dependentes das corporações e organizações supranacionais.
Apesar dos avanços institucionais, a agenda brasileira da sustentabilidade ainda é incompleta e dependente. Em momentos de crise, ressurgem pressões para flexibilizar legislações ambientais em nome do crescimento econômico e desejos corporativos internos e exógenos.
A geografia política pode colaborar ao mostrar que os processos sociais são complexos e interconectados, e que as sustentabilidades exigem lidar com essas contradições de forma consciente. Acredito que assim será possível avançar sem retrocessos para uma agenda de desenvolvimento mais autônoma que amplie a coparticipação social, política e institucional.