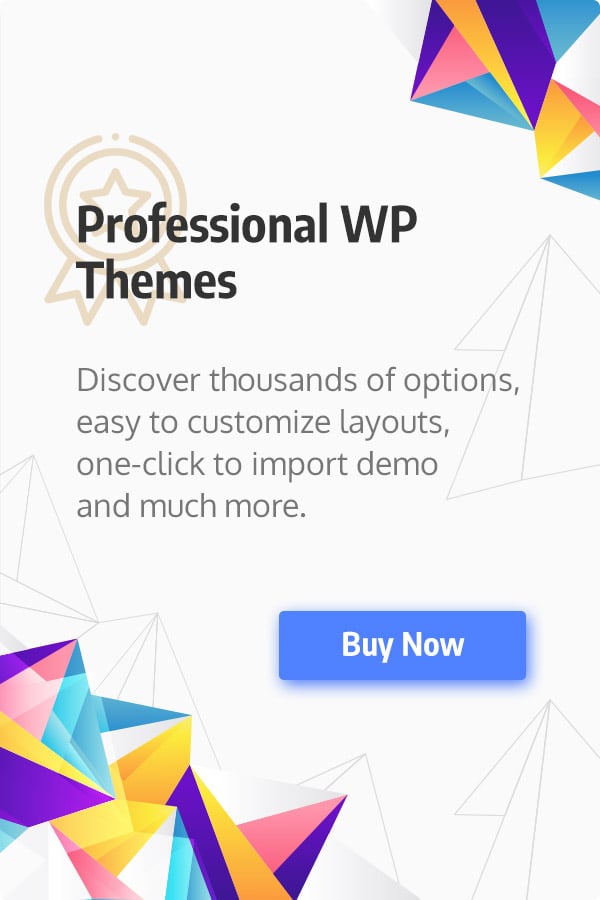A COP 30 de Belém foi um evento de dupla face. Por um lado, apresentou-se como o centro das negociações mais relevantes para o futuro do planeta e da humanidade. Por outro, funcionou como um amplo balcão de negócios.
Essa ambiguidade não é casual, ela expressa a forma como na conferência foi operada a combinação de zonas diplomáticas, estruturas corporativas e espaços destinados à sociedade civil, em uma arquitetura que cada vez mais favorece a prevalência de interesses privados.
Ao longo dos dez dias de evento, Belém testemunhou a presença ostensiva de empresas da mineração, do petróleo e do agronegócio que promoveram narrativas de “sustentabilidade verde” pouco condizentes com a realidade amazônica e com as lutas dos povos tradicionais. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, na Margem Equatorial, segue avançando o novo megaprojeto de exploração petrolífera, com forte impacto ambiental e social. Em paralelo, movimentos sociais organizaram a Cúpula dos Povos, que buscou tensionar o discurso oficial e mostrar que outra agenda climática é possível.
A COP 30 carregou em tese um simbolismo extraordinário. Belém, às margens da maior floresta tropical do mundo, foi toda reformada e projetada, com falhas no licenciamento ambiental, como a vitrine da liderança climática brasileira.
Até mesmo um incêndio na área azul, embora sem vítimas fatais, evidenciou o improviso e a fragilidade da infraestrutura celebrada ao redor do evento.
O governo Lula apresentou-a como a “COP da verdade”, associando o evento à coragem moral e à necessidade de ação rápida. No entanto, esse discurso contrasta com a crescente apropriação da conferência por atores extrativistas, financeiros e corporativos.
Não por acaso, líderes indígenas como Ailton Krenak alertaram para o risco de que o encontro se torne uma grande engrenagem destinada a negociar petróleo, madeira e terras raras sob o pretexto da sustentabilidade.
O relatório “A COP dos Lobbies”, produzido pelo observatório De Olho nos Ruralistas e pela FASE, reforça essa crítica ao mostrar como grandes corporações com extensos passivos socioambientais utilizam o evento para promover suas próprias narrativas de responsabilidade ambiental.
Empresas como Vale, Hydro, Bayer, Raízen e Rumo Logística aparecem como protagonistas de iniciativas verdes ao mesmo tempo em que acumulam denúncias, ações judiciais e impactos socioambientais graves. No sistema financeiro, instituições como Itaú e BTG Pactual destinam bilhões a cadeias que impulsionam também o desmatamento.
O relatório revela que os financiadores privados atuaram muito antes do início da Conferência, influenciando sua organização, seus temas prioritários e o acesso aos espaços estratégicos. Essa influência se articulou com a própria geografia da COP, dividida entre a Blue Zone, dedicada às negociações formais, e a Green Zone, aberta à sociedade civil, empresas e ONGs. Além delas, surgiram estruturas paralelas custeadas por grandes corporações, como pavilhões e espaços alternativos que difundem suas narrativas e reforçam alianças com órgãos governamentais.
A Agrizone, organizada pela Embrapa com financiamento da Confederação Nacional da Agricultura e da Bayer, exemplifica essa simbiose entre Estado e setor privado. O mesmo ocorre com a Estação do Desenvolvimento, financiada pela MV Infra, entidade que atua pela flexibilização do licenciamento ambiental. Esses exemplos mostram um ambiente em que interesses privados agenciaram fortemente a agenda pública e influenciaram a formulação de políticas climáticas.
Esse contexto trouxe à tona mais uma vez um conflito de temporalidades. Há o tempo vivido pelos povos originários e comunidades tradicionais, que já enfrentam a destruição de seus territórios. Há o tempo lento da diplomacia, que supostamente opera com metas distantes como 2030 e 2050. Há o tempo corporativo-financeiro, que age segundo a lógica da expansão permanente do lucro.
E há o tempo ecológico, que deixou de ser futuro e já se manifesta no presente por eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e colapsos territoriais. Na COP30, esses tempos não convergiram, pois o tempo do capital tendencialmente se sobrepõe a todos os demais.
No entanto, o conflito não é apenas temporal, mas também de modos de existir. De um lado, o modo extrativista capitalista trata a Terra como recurso. De outro, o modo indígena e ribeirinho entende os territórios como corpos relacionais e ancestrais. O modo corporativo reduz a natureza a ativo financeiro, enquanto o modo ecológico opera segundo ciclos biológicos e não negocia sua capacidade de regeneração.
Belém tornou esses embates visíveis. Na cidade, o rio pode ser parente ou corredor logístico, a floresta pode ser um ser vivo ou depósito de créditos de carbono, o território pode ser corpo ou jazida de petróleo.
No interior do governo brasileiro, as contradições também são profundas. A política ambiental de Lula oscila entre o discurso ambiental e a prática de ministérios que defendem a expansão do petróleo, o avanço do agronegócio e a flexibilização regulatória.
O Ministério do Meio Ambiente tenta impulsionar medidas de transição energética, enquanto o Ministério de Minas e Energia projeta transformação do Brasil em um dos maiores produtores de petróleo do mundo para exportação. O Ministério da Agricultura considera irrealista a meta de zerar o desmatamento até 2030 devido a sanha extrativista e produtivista agroexportadora do agronegócio.
Apesar desse cenário, teve resistência. A Cúpula dos Povos reuniu mais de mil entidades de sessenta e dois países e ofereceu espaço para reivindicações, denúncias e articulações. A Marcha Mundial pelo Clima, com cerca de trinta mil participantes, trouxe pautas de justiça ambiental, direitos humanos e críticas ao modelo econômico predatório. Os povos indígenas foram protagonistas e afirmaram que não há agenda climática séria sem demarcação de terras e respeito à Convenção 169 da OIT.
Assim, ano após ano percebe-se que a COP tem funcionado como um “ritual de gestão da culpa ecológica das elites”, que encenam sua própria absolvição por meio de promessas futuras de preservação, metas distantes e promessas de transição ecológicas, tipo um fetiche político que recalca a destruição real, gera negacionismo climático e preserva o sistema que está produzindo a devastação ambiental.