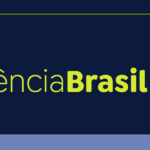O The Conversation Brasil fechou uma parceria inédita com uma das instituições jornalísticas mais conceituadas do mundo na divulgação de informações embasadas sobre os maiores desafios humanos, ambientais e geopolíticos da atualidade: o Pulitzer Center, que desde 2006 apoia jornalistas e produz reportagens e relatórios aprofundados sobre questões de relevância global. A partir de hoje e pelas próximas semanas publicaremos artigos sobre os efeitos das mudanças climáticas na América Latina, e o que ainda pode ser feito para minimizá-las. Os textos, preparados por pesquisadores brasileiros da rede de colaboradores do TCB, analisarão temas propostos por investigações feitas por jornalistas do Pulitzer Center, que hoje atua em 14 países, incluindo o Brasil. A desigualdade dos impactos da crise climática, as consequências já irreversíveis do aquecimento dos oceanos, os riscos de tragédias socioambientais provocadas pela insistência nos combustíveis fósseis, e o crescente desmatamento das florestas tropicais em nome de um desenvolvimento econômico que já não se sustenta estarão entre os temas abordados. E o primeiro artigo, uma análise preocupante sobre o mercado de créditos de carbono no Brasil, é assinado pelos pesquisadores Pedro Martins, da UFPA, e Letícia Tura, da UFRJ.
Muitas vezes – quando a comunidade científica se reúne em debates, seminários e oficinas sobre mudanças climáticas, soluções baseadas na natureza, redução de emissões de gases de efeito estufa, COP 30 e conservação – vários de nós voltam para casa ainda sem uma resposta definitiva para uma pergunta chave nesse contexto: o que são, afinal, os créditos de carbono? O que esta abstração humana realmente faz na prática para reduzir os impactos das mudanças na natureza que tanto preocupam a humanidade.
A dificuldade em materializar, concretizar e mesmo simbolizar o conceito de crédito de carbono realmente persiste. E, na verdade, fica cada dia mais difícil realizar essa missão. E a razão está na origem do conceito. Diferente das relações de cultivo, manejo, roçado, pesca e outras formas de se relacionar com a natureza, o crédito de carbono não é fruto da relação de uma comunidade com o meio à sua volta, mas do mercado financeiro com a apropriação da natureza. Distante de qualquer visão comunitária ou étnica, a expressão “crédito de carbono” é muito mais um termo financeiro, inerente ao mundo dos negócios.
Mesmo a prática da compra e da venda de créditos de carbono não se assemelha às transações comerciais concretas do cotidiano. Afinal, como transportar o carbono? Quem coloca o carbono na balança? Quem diz o preço do crédito? Quem se beneficia com esse crédito? Essas perguntas são respondidas na ordem financeira. O crédito de carbono, especialmente do carbono florestal, é antes de tudo um certificado. Assim ele se materializa. Ou sejam, não se transporta nem se pesa carbono, mas se pode colocar o certificado de posse de uma quantidade substancial deles em uma pasta física, colocá-la debaixo do braço e guardar na gaveta. Ou, claro, num arquivo digital.
Como se mede e como se compensam as emissões de carbono
Na teoria, o crédito de carbono diz respeito a uma quantidade de gases de efeito estufa medida em “carbono equivalente”. Qualquer gás pode ser medido pelo seu volume, e assim os diferentes gases que causam o efeito estufa são integrados na mesma unidade de medida, que é o chamado “carbono equivalente”.
Esse cálculo é uma aproximação, feita por meio de técnicas de engenharia florestal, no caso do carbono florestal. Quando emitido, o certificado indica a área de conservação ou restauração a ele relacionada, e as toneladas de carbono equivalentes que o dono do certificado evitou emitir, ou conseguiu estocar em um determinado período de tempo. Os registros desse certificados terão a função de um título que pode então ser negociado.
Mas o que se negocia não são toneladas de gases, mas a capacidade da própria natureza de estocar ou evitar a emissão desses gases para a atmosfera. Na prática, pode-se dizer que quem compra crédito de carbono compra uma “licença para poluir”.
Não estamos falando de uma dificuldade de compreender o conceito por ele estar ligado a conhecimentos específicos da engenharia florestal e áreas afins, mas sim por ele fazer parte de uma lógica de mercado que transforma e cria mercadorias conforme a necessidade do sistema financeiro.
Larissa Packer, estudiosa do tema e membro do Grupo Carta de Belém, indica que o mercado transformou o carbono em mercadoria ao conseguir permissão para operações de apropriação e financeirização dos bens comuns da natureza. Uma deturpação do conceito do direito de todos ao meio ambiente, previsto na Constituição Brasileira.
No Brasil, os créditos de carbono pertencem aos Estados
Um dos grandes problemas inerentes ao funcionamento do crédito de carbono é em relação à propriedade. Tanto do crédito em si quanto das funções da natureza que fornecem o serviço ecossistêmico que é “vendido” nesse processo. E o mercado financeiro criou uma regra para isso: a figura do proprietário da terra onde está a floresta conservada ou restaurada.
No processo de certificação de créditos de carbono, a propriedade da terra não é apenas um lastro para produzir mercadorias e definir quem pode negociar. As certificadoras exigem, e isso varia de acordo com a legislação de cada país, quais documentos servem para dar segurança ao mercado. Assim, terras de povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas entram nesse mercado por meio de seus respectivos documentos. Eles são o CCDRU – Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, os Títulos de Domínio Coletivo e a Portaria de Homologação, entre outros. Já as propriedades privadas entram a partir da matrícula do imóvel.
Assim, as estratégias públicas e privadas pró mercado de carbono aparentemente favorecem a pauta histórica do reconhecimento do território coletivo. Mas na prática os contratos de crédito de carbono visam prender os territórios em cláusulas que restringem os seus usos, que no sentido mais amplo são as territorialidades desses grupos.
Assim funcionava e ainda funciona o mercado privado de carbono. E o Brasil acaba de aprovar uma nova lei, ainda não regulamentada (Lei nº 15.042/2024 do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) que dá vida a uma outra figura nesta dinâmica: o Estado como também potencial titular desses créditos.
De acordo com o texto da nova lei, os governos estaduais agora podem ter seus sistemas jurisdicionais de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDDs) e realizar operações de mercado em que toda a área sob jurisdição do estado pode ser computada nos cálculos que vão resultar no certificado.
Assim, mesmo sem ter a propriedade de um determinado território, um governo estadual pode se apropriar de créditos de carbono relacionados a ele e comercializá-los, por exemplo, com empresas poluidoras e até mesmo com outros países.
Diante dessa novidade preocupante, o Ministério Público do Estado do Pará tem questionado se essa estrutura governamental é possível dentro dos parâmetros legais e constitucionais, pois na prática permitirá uma apropriação estatal dos créditos de carbono gerados a partir de uma determinada terra sem destinar os recursos gerados para beneficiar as populações que ali vivem.
Território fértil para grilagem de terras
Um agravante é que, ainda que a Lei do SBCE tenha previsto o direito à Consulta Prévia, Livre e Informada, seu texto atribuiu, no caso dos Sistemas Jurisdicionais, uma titularidade compulsória do crédito de carbono ao governo estadual . Significa dizer que “tudo” é do Estado até que algum território peça para administrar seus próprios créditos.
Sem os processos adequados de consulta prévia, os territórios das populações originárias na Amazônia – que mal sabem o que é crédito carbono, desconhecem quem os possui e ignoram para quem serão vendidos – ficam impossibilitados de saber sequer se seus territórios podem estar fazendo parte de uma negociação entre o Estado e o setor privado que pode ter impacto significativo do seu dia a dia e na sua própria relação ancestral com a natureza.
De acordo com dados da operação Greenwashing da Polícia Federal, o crédito de carbono já está bastante relacionado com a grilagem de terra na Amazônia, e se consolida como uma espécie de ficção climática usada para favorecer o lucrativo mercado gerado pelos créditos.
Em reportagem para Mongabay, a jornalista Fernanda Wenzel explicou em detalhes a operação Greenwashing. Ela envolve, por exemplo, a investigação de procedimentos de cartórios de registro de imóveis, que geravam documentos aparentemente verdadeiros sobre propriedades de terras, apenas para respaldar a criação de certificados de crédito de carbono para empresas privadas.
A operação, bem como a reportagem, aconteceram antes da promulgação da Lei do SBCE. Mas não há na Lei previsão de mecanismo que impeça o mercado de carbono de se valer da grilagem de terras. Ao contrário do que se possa imaginar, a Lei do SBCE e demais mecanismos de redução de emissões por desmatamento e degradação no Brasil permitem o avanço do mercado sobre a floresta e sobre a terra onde vivem povos originários sem resolver questões históricas relacionadas a isso.
Assim, as figuras do grileiro e do latifundiário explorador, tão presentes na história do Brasil, em vez de perderem relevância frente a um mundo mais consciente e vigilante ecologicamente, na prática modernizam-se e se fortalecem, com a ajuda dos créditos de carbono.