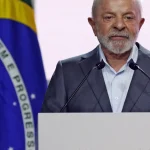A Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP30), em Belém do Pará, não é apenas mais um encontro internacional. Ela marca um momento histórico em que o multilateralismo climático revela sua fragilidade. As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, não enviaram seus principais líderes. Essa ausência, até certo ponto, converte o encontro em um espelho da desordem global contemporânea: as potências divergem, e a Amazônia passa a representar tanto a urgência quanto a esperança.
A atmosfera de Belém reflete esse contraste. O calor recorde que castigou o planeta em 2023, 2024 e 2025 deixou marcas físicas e simbólicas. Na mesma região onde centenas de botos morreram com as águas a 41 °C, líderes mundiais tentam reacender a credibilidade de um sistema internacional fragmentado.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) como a nova vitrine do chamado capitalismo verde, com uma aportação inicial de 5,5 bilhões de dólares, a que se unem transferências provenientes de Noruega, França e Portugal. O fundo objetiva remunerar a países e comunidades que preservam suas florestas, encerrando a era das doações condicionadas e prometendo ganhos para investidores e guardiões da natureza.
Como gerar lucro suficiente para competir com o desmatamento
A iniciativa busca compaginar ética ambiental e lógica de mercado. Seu sucesso depende, no entanto, de uma equação delicada: gerar lucro suficiente para competir com o desmatamento. Essa contradição resume o dilema do século XXI — conciliar ambição financeira e sobrevivência planetária.
O ministro Fernando Haddad, que estima 10 bilhões para o Fundo de Proteção, o definiu como uma revolução pragmática, enquanto Marina Silva afirmou que o TFFF é um investimento, não uma doação. A linguagem dos negócios domina o vocabulário climático, e a Amazônia vira, queiramos ou não, um laboratório para um modelo que mescla conservação e rentabilidade.
As imagens fora do auditório são menos otimistas. Jovens indígenas da flotilha Yaku Mama chegaram a Belém após cruzar 3.000 quilômetros de rios, recolhendo demandas e denúncias. Eles recordam que menos de 1% do financiamento climático internacional chega diretamente às comunidades locais, embora elas preservem 80% da biodiversidade remanescente. A juventude amazônica emerge como ator político de primeira ordem, denunciando que o Norte global continua transferindo responsabilidades sem redistribuir recursos.
A ausência de Donald Trump e de Xi Jinping (este enviou um comitê de alto nivel e com novas metas climáticas, saindo muito mais fortalecido que o representante norte-americano), de certo modo, amplifica a sensação de vazio diplomático. O primeiro rejeita o consenso científico e vê o ambientalismo como obstáculo econômico. O segundo, mesmo investindo em tecnologias verdes, mantém o foco em seu próprio crescimento.
O resultado é um mundo sem um centro de gravidade climática claro: cada país parece agir segundo sua própria conveniência. Diante disso, o Brasil tenta ocupar um papel mediador entre o Norte industrial e o Sul ecológico, aproximando-se da União Europeia e retomando o discurso de justiça ambiental.
Pedro Sánchez, primeiro-ministro do Reino de Espanha, em seu discurso, lembrou que as mudanças climáticas causaram mais de 20.000 mortes em cinco anos apenas em seu país. O tom europeu reforça o contraste com o negacionismo de Washington.
Multilateralismo tenta sobreviver em meio à fragmentação política e à financeirização da natureza
A União Europeia busca reafirmar sua liderança normativa, mas enfrenta divisões internas e pressão de setores industriais resistentes à transição. Belém tornou-se, assim, o palco simbólico de uma disputa de legitimidades: o multilateralismo tenta sobreviver em meio à fragmentação política e à financeirização da natureza.
Enquanto isso, os efeitos do aquecimento global se intensificam. A seca extrema na Amazônia, a mortandade de peixes e a escassez de água nas comunidades ribeirinhas ilustram a erosão de um sistema que já ultrapassou limites críticos.
Cientistas alertam que parte da floresta se aproxima do ponto de não retorno, quando vastas áreas se transformarão em savanas degradadas. A crise ecológica se mistura à humanitária: milhares de crianças ficaram sem acesso a escolas e alimentos durante os meses de estiagem. O drama cotidiano da região desmonta qualquer discurso de otimismo climático.
A COP30 busca reverter esse colapso simbólico e político. O Brasil aposta na liderança de uma diplomacia ambiental de terceira via, baseada na integração entre tecnologia, inclusão social e pragmatismo econômico. Mas a dúvida persiste: o fundo florestal de Belém representa um novo contrato ecológico ou apenas uma sofisticação financeira da mesma lógica extrativa? O sucesso do projeto dependerá de superar a tentação de lucrar mais derrubando árvores do que preservando-as.
Os encontros e discursos estão deixando uma sensação ambígua. Entre promessas de cooperação e silêncios estratégicos, emerge a consciência de que o tempo diplomático se alonga enquanto o tempo climático se comprime. O debate global sobre o clima tornou-se também um espelho da crise de governança internacional.
O desafio não é mais redigir compromissos, mas convertê-los em ações tangíveis que unam ciência, política e sociedade. Belém simboliza esse ponto de virada: o limite entre o discurso e a sobrevivência.