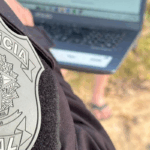No The Conversation Brasil, acreditamos na democratização da ciência. E essa democratização passa pela valorização do trabalho que cientistas cujas vozes muitas vezes não ressoam como a daqueles que atuam em grandes centros de pesquisa do Sudeste: pesquisadores negros, indígenas, mulheres, integrantes de grupos minorizados das mais diferentes origens. No artigo abaixo, vamos conhecer a história de uma historiadora – e antropóloga – indígena, que lutou contra o preconceito em sua própria aldeia para seguir uma vida acadêmica e, agora, voltar às origens para ajudar os seus, fortalecendo o diálogo entre os conhecimentos tradicionais do seu povo Krahô e os preceitos da educação formal.
Começo este texto com muito orgulho e jakryxá (felicidade) por ganhar a oportunidade de relatar a minha trajetória de indígena num veículo tradicional de divulgação científica acadêmica. Trajetória de uma mulher Krahô que enfrentou desafios que começaram pelo simples ato de tentar: na minha época, sair da aldeia significava enfrentar críticas da comunidade, já que, tradicionalmente, nós meninas Krahôs somos criadas para casar e constituir família.
No entanto, eu não segui essa regra. Escolhi trilhar o caminho da academia em busca de conhecimentos não indígenas — os conhecimentos do mundo cupê – o mundo dos homens e mulheres brancos. Hoje, sou mestre em História e Doutora em Antropologia pela Universidade Federal de Goiás.
Minha Terra Indígena é a Kraolândia, situada no estado do Tocantins. O povo Krahô teve seus primeiros registros escritos entre os séculos XVIII e XIX, onde foram identificados pelos exploradores que primeiro visitaram a região como os “Mecamecrãs”. Nossos primeiros contatos com a população não indígena ocorreram no final do século XVIII.
Conhecimento diferente, saber universal
Nós, indígenas, temos nossas próprias formas de transmitir conhecimento, o que contrasta com o modo cupê (não indígena), que prioriza a linguagem escrita.
Mesmo quando estamos na aldeia, há distinções evidentes quanto à forma de realizar uma pesquisa. Nesse sentido, é pertinente destacar a análise de Linda Tuhiwai Smith, intelectual do povo originário neozelandês maori, que discute os significados da pesquisa no contexto dos cupês e dos mehî.
Ao se referir aos não indígenas, a autora trabalha com o conceito de pesquisa tal como definido nas instituições ocidentais. Em contrapartida, ao abordar os mehî, ela foca nos imensos desafios enfrentados pelos povos indígenas em contextos acadêmicos.
Nós, os mehî, levamos mais tempo para compreender certas palavras, sinais gráficos, símbolos e siglas presentes nas formas de comunicação tradicionais dos não indígenas.
Em nossas comunidades, aprendemos a reconhecer objetos que também são símbolos — como nossas pinturas corporais, os cortes de cabelo, o maracá — e que carregam significados profundos. São essenciais para o nosso modo de vida e nossa expressão cultural. Mas são, claramente, outros tipos de símbolos.
Os relatos sobre nossas origens refletem nossas formas de pensamento repletas de conhecimento, história e filosofia. Não por acaso, o campo da antropologia tem contribuído significativamente para minha formação acadêmica. Sou historiadora e doutora em antropologia pela Universidade Federal de Goiás. Mas eu procuro praticar uma antropologia no modo mehî. Descrevo as convivências e os resguardos da mulher mehî, configurando-se como uma literatura dedicada à saúde das mulheres indígenas.
A Terra Indígena (TI) Kraolândia, onde nasci, está situada na região norte do estado do Tocantins, abrangendo os municípios de Itacajá e Goiatins. Seus limites territoriais são definidos por importantes cursos d’água, como o Riozinho, o Rio Vermelho e o Ribeirão dos Cavalos, que desempenham papel fundamental na delimitação física da TI e na vida cotidiana das comunidades locais.
Esse território é habitado pelo povo Mehî, conhecido externamente como Krahô, cuja organização social, política e espiritual está profundamente enraizada na relação com a terra e os recursos naturais. A TI Kraolândia não é apenas um espaço geográfico delimitado, mas sim um território sagrado de memória, ancestralidade e resistência. É nesse contexto que se constrói toda a perspectiva existencial e a experiência real de vida de uma mulher Mehî.
Atualmente, moro e trabalho na Aldeia Sol, uma comunidade-escola indígena criada recentemente, que procura valorizar a aquisição de conhecimentos tradicionais indígenas em diálogo com a educação formal.
Porém, ainda não temos estrutura. Nossas casas são feitas de palha de coco babaçu, comum no estado do Tocantins. Nossa escola, que funciona há um ano, tem essa estrutura que vemos nas fotos que ilustram este texto. É tudo ainda muito precário, e temos medo de que ela não aguente a próxima temporada de chuvas. Estamos em busca de recursos.
Este pequeno relato é só uma parte da nossa rica história – e das nossas dificuldades da atualidade, que giram em torno do esforço de inserir e integrar nossos saberes com o conhecimento acadêmico.
Mas isso é assunto para um outro depoimento.