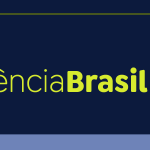Uma aluna me abordou com delicadeza e estranhamento diante de algo que costumo expressar em aulas ou reuniões: minha constante autodeclaração como “homem preto de pele clara”. Em tom amistoso, ela perguntou por que eu sentia necessidade de reafirmar minha existência dessa forma.
A pergunta revela um mal-entendido comum sobre o lugar da questão racial no Brasil e, mais profundamente, sobre o que significa existir em um corpo marcado pela história.
Minha resposta parte do seguinte princípio: nomear-se é um ato político. Quando digo “sou um homem preto de pele clara”, não reivindico pureza identitária nem busco aprovação. Rejeito, sim, o rótulo de “pardo” que tantas vezes funciona como uma categoria de apagamento, uma zona de conforto racial para um país que insiste em se ver como uma democracia racial. Ao nomear minha negritude, recuso a neutralidade.
A obra Pele Negra, Máscaras Brancas, do psiquiatra e filósofo Frantz Fanon, traz uma reflexão poderosa sobre os efeitos do racismo e do colonialismo. Para Fanon, nas sociedades marcadas pela colonização, torna-se impossível para o sujeito negro simplesmente “ser”. Sua existência é marcada por olhares e valores impostos de fora, que negam sua humanidade e moldam sua identidade de maneira violenta.
Essa afirmação lança luz sobre o incômodo que certas declarações de identidade ainda provocam. Para muitos, a autodeclaração racial explícita soa excessiva, desnecessária, quase performática. Mas é preciso entender que, no Brasil, a invisibilização é uma forma histórica de violência.
A ambiguidade racial cultivada socialmente tem servido para suavizar conflitos e manter estruturas. Por isso, afirmar-se é resistir, não contra indivíduos, mas contra uma lógica que nega a existência plena de corpos não-brancos.
Experiências cotidianas de violência
Esse gesto de recusa nasce das experiências cotidianas que violentam silenciosamente o ser. Ele nasce quando sou seguido em uma loja, de forma disfarçada, mas insistente, porque minha pele preta, tatuada e visível, não me permite passar despercebido. Ou quando meu filho, parado em um bloqueio policial, tem o carro revirado sob suspeita implícita, e ouve como pedido de desculpas que “não tem o perfil de quem dirige esse tipo de carro”. Ou ainda quando um aluno tem seu pertencimento negado por uma comissão de heteroidentificação, como se critérios objetivos e estáticos detivessem a palavra final sobre o que é ou não ser negro.
O desafio mais profundo, no entanto, é que nem sempre nos damos conta de como essas estruturas estão entranhadas em nós. A colonização mental é sutil, sofisticada, e opera também entre os bem-intencionados.
Certa vez, escutei de um profissional da saúde mental, ao criticar um evento voltado justamente para discutir o sofrimento de grupos marginalizados: “A mente não tem cor, nem tem sexo.“ A frase, à primeira vista neutra, ecoa uma universalidade abstrata que desconsidera o corpo, a história, e a desigualdade. Mas a mente tem cor e tem sexo, seja lá o que se queira entender por mente. A experiência marca o sujeito.
Ciência embranquecedora
Assim como o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Érico Andrade, filósofo e psicanalista, denuncia em Negritude sem identidade o modo como a filosofia o embranqueceu, percebo hoje que a ciência também me embranqueceu.
A análise que ele faz da filosofia como um grande cativeiro, um espaço que seduz com a promessa de universalidade, mas que impõe como condição a assimilação aos seus modelos eurocentrados, ressoa fortemente na minha própria trajetória acadêmica.
Tal como a filosofia, a ciência tem um projeto constitutivo atravessado por um ideal de referência ancorado no Norte global (são os países ricos e poderosos que influenciam a economia, a ciência e a política mundial, como EUA e Europa Ocidental). O discurso da neutralidade, tão exaltado nos manuais e reverberado nos corredores institucionais, raramente se concretiza na prática. O que se apresenta como universal é, muitas vezes, apenas o espelho de uma experiência situada, a de um grupo historicamente dominante.
Ao realizar essa crítica, não estou rejeitando a ciência, assim como Érico não rejeita a filosofia. Reconhecemos as potências de ambas. Mas é preciso nomear seus limites e implicações.
A filosofia embranqueceu Érico quando exigiu que ele silenciasse partes de sua origem, que apagasse a pele, a memória, a casa. A ciência me embranqueceu ao exigir que eu performasse um ideal de objetividade que, em nome da isenção, desconsiderava minha experiência, meu corpo e meu território.
A afirmação da nossa identidade, dos nossos saberes, das nossas memórias ancestrais e das nossas epistemologias é, portanto, uma insurgência política. Ser preto é ocupar espaços que nos foram negados, é reivindicar nossa humanidade em uma sociedade que insiste em nos desumanizar. É fazer da pele retinta, que por séculos foi alvo de desprezo, um território de dignidade, potência e existência.
O direito de narrar o mundo
É – como nos ensinou, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro e tantos outros – disputar o direito de narrar o mundo a partir das nossas experiências, não como vítimas, mas como protagonistas históricos de uma nova possibilidade de Brasil. Mas, obviamente isso tem um custo!
A ocupação de espaços sociais de referência, como esse que estou, atualmente, na academia, transgride a lógica da construção social do Brasil. Como homem preto e retinto, a ocupação de posições de tomada de decisão ou de formação humana requer uma luta diuturna contra o sistema, e contra si próprio.
O sistema está dado, querem nos calar, nos invisibilizar e diminuir; o que por sua vez gera a sabotagem interna da insuficiência. Por vezes me pergunto se sou merecedor (como se isso fosse necessário) de estar onde estou, de ocupar posições estratégicas em uma universidade pública. Por vezes penso se esse é meu lugar, ou se sou capaz de desenvolver minhas atividades como cientista.
Romper o paradigma da colonização mental é passo fundamental para uma prática verdadeiramente antirracista, sobretudo em espaços historicamente forjados pelo elitismo — como é o caso da universidade. Nesse contexto, o atravessamento histórico marcado por exclusões e apagamentos exige um posicionamento político que antecede qualquer neutralidade nas atividades científicas.
A universidade, ainda hoje, opera sob uma racionalidade eurocentrada e classista, que marginaliza epistemologias negras e populares, e transforma nossos corpos em exceção ou estatística.
Os efeitos dessa construção são ambíguos: por um lado, possibilitaram avanços significativos na ocupação de espaços antes negados ao nosso povo desde os tempos coloniais; por outro, revelam as tensões persistentes do não reconhecimento ou da negação entre aqueles que, mesmo submetidos à mesma lógica excludente, nem sempre se percebem como parte de uma mesma luta.
Pesquisa do Datafolha de novembro de 2024 aponta que 60% dos autodeclarados pardos não se consideram negros, enquanto 96% dos pretos se reconhecem como tal — um dado que não deve ser lido como falha da estratégia, mas como sintoma das feridas abertas por um projeto de nação que ainda nos divide.
Finalizamos afirmando que políticas afirmativas, como o sistema de cotas, são conquistas fundamentais para a ampliação da presença preta nos espaços acadêmicos, mas não podem ser vistas como um ponto de chegada – são, antes, um meio para corrigir desigualdades históricas e estruturar caminhos de justiça.
No entanto, a real transformação se dará quando houver a ampliação das vozes e das vezes da população preta na produção e circulação do conhecimento, de modo que a legitimidade da negritude não dependa da chancela de um terceiro, mas seja reconhecida por sua própria autoridade epistêmica, cultural e histórica.
Há, contudo, uma tensão que precisa ser nomeada: a branquitude, conceito que se refere ao lugar social, simbólico e político de privilégios construídos historicamente em torno das pessoas brancas, a qual diante da ameaça de perda de seus privilégios, se reinventa para manter seu lugar de poder, inclusive se apropriando de instrumentos criados para reparação.
Ao tentar burlar o sistema e se autodeclarar cotista, por exemplo, instrumentaliza a política de inclusão como mecanismo de conservação dos próprios privilégios, revelando, mais uma vez, que o racismo não é só estrutural, mas também estratégico.
Somos dois professores universitários, homens pretos forjados em trajetórias de resistência. Nossas experiências não são idênticas. Uma é marcada pela vivência de um homem preto de pele clara, a outra, pela de um homem preto retinto, mas essas experiências se cruzam na urgência de disputar sentidos e interrogar os espaços que ocupamos.