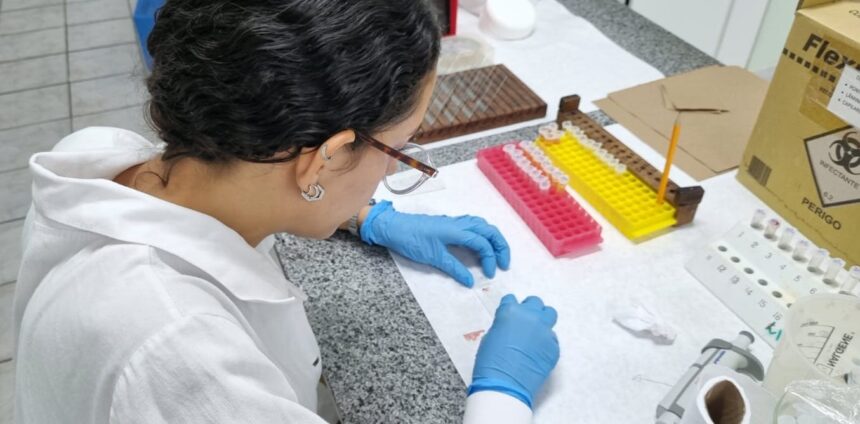No The Conversation Brasil, acreditamos na democratização da ciência. E essa democratização passa pela valorização do trabalho que cientistas cujas vozes muitas vezes não ressoam como a daqueles que atuam em grandes centros de pesquisa do Sudeste: pesquisadores negros, indígenas, mulheres, integrantes de grupos minorizados das mais diferentes origens. O relato da graduanda em Ciências Moleculares pela USP Maria Fernanda Marins demonstra a importância dessa democratização. Ao participar de um programa de intercâmbio acadêmico entre estudantes de diferentes regiões oferecido pela Academia Brasileira de Ciência, Maria Fernanda vivenciou o potencial de ampliação de visão que outras vozes trazem para o debate científico. Ela descobriu que a integração científica, no Brasil, pode e deve começar com deslocamentos concretos. E com o estímulo a parcerias intelectuais que cruzem o Brasil de norte a sul. Abaixo, ela nos deu o seu relato:
A Amazônia sempre me pareceu um lugar tão distante. Mesmo com meu interesse por ciência desde cedo e por questões ambientais à medida que cresci, nunca imaginei que um dia estaria no coração da Amazônia, em um laboratório de referência, cercada por grandes pesquisadores que mudariam minha forma de ver o mundo, a carreira científica e o papel que temos num planeta em crise.
Essa chance veio graças ao Programa Aristides Pacheco Leão (PAPL), criado pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O programa busca incentivar vocações científicas de jovens estudantes, conectando-os a laboratórios dirigidos por membros da ABC.
Mas, para mim, ele acabou revelando algo ainda maior: o quanto a ciência brasileira tem a ganhar se estimularmos mais intercâmbio entre regiões tão diferentes quanto São Paulo e Amazonas.
Vivendo (e pesquisando) em Manaus
Em Manaus, fui recebida pelo Adalberto Val e sua equipe no Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM/INPA). Eles têm uma trajetória robusta estudando como organismos aquáticos da Amazônia estão reagindo às mudanças climáticas. No meu caso, participei de uma pesquisa com o tambaqui (Colossoma macropomum), uma espécie nativa essencial para a ecologia e a economia da região.
Meu envolvimento no projeto foi possível graças ao trabalho de colegas mais experientes como Susana Braz-Mota, Jhonatan Mota e Anna Scherer, que já pesquisavam respostas de peixes à temperatura e acompanhavam indivíduos de tambaqui desde a fase larval em uma sala que simula um cenário climático projetado pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC) para o ano de 2100.
Essa sala é caracterizada por um aumento de 5 ºC e 708 ppm de CO2 em comparação com o cenário atual. Nossa meta era entender como esses peixes reagem a ambiente mais extremo, como esse que o IPCC projeta para as próximas décadas.
Investigamos parâmetros fisiológicos diversos, como a composição do sangue, danos nos tecidos e funcionamento das mitocôndrias. Embora algumas respostas mostrassem tentativas de adaptação, encontramos sinais claros de estresse: alterações nas brânquias, fígado e coração, além de um aumento nos níveis de lactato e glicose, e desgaste celular.
Estar ali, vendo esses dados surgirem em tempo real, me fez perceber o quanto o conhecimento científico pode (e deve) se conectar às decisões sobre o futuro da Amazônia. Os resultados reforçam a urgência de monitorar os efeitos das mudanças climáticas sob o risco de que a biodiversidade aquática da região seja drasticamente reduzida em um futuro mais quente, e cada vez mais próximo.
Integração não é favor, é estratégia
Durante o ensino médio, pensava que a ciência se limitava aos artigos e à sala de aula. À medida que fui amadurecendo e adquirindo novas experiências, compreendi que ela é, na verdade, uma ferramenta de resistência, participação e transformação. E em Manaus, essa ideia se consolidou, pois pude observar isso de perto. O grupo que me acolheu está profundamente envolvido com questões sociais e ambientais, e seus dados são usados para pautar políticas públicas e iniciativas de conservação.
Mas essa experiência também deixou evidente um problema: a desigualdade regional no sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Atualmente, o LEEM conta com infraestrutura de ponta e recursos para a pesquisa por ter aprovado projetos importantes junto ao CNPq. Porém, nacionalmente, a região Norte recebe apenas 3,6% dos investimentos em Ciência e Tecnologia, enquanto o Sudeste concentra cerca de 65%.
A correção desse rumo não é só uma questão de justiça social, mas de geração de novas oportunidades. A interação entre grupos de pesquisa de regiões distintas pode gerar novas ideias de pesquisa que, por sua vez, avançam no conhecimento necessário para enfrentar desafios complexos, como as mudanças climáticas.
Mas essa nova rota não pode seguir o modelo tradicional de políticas públicas, marcado por decisões de cima para baixo e pela exclusão dos atores diretamente envolvidos. Em Manaus — e, por extensão, na Amazônia — tive contato com uma comunidade científica vibrante, comprometida em desenvolver soluções que partem, antes de tudo, das especificidades e necessidades da própria região, então, acredito que é preciso valorizar isso.
Ciência que atravessa fronteiras
Em dois meses no INPA, aprendi mais do que imaginei. Voltei para São Paulo com bagagem técnica, intelectual e afetiva. E com a certeza de que mais estudantes como eu precisam viver experiências como essa.
Quero voltar. Depois dessa vivência, vislumbro mais possibilidades de atuar como cientista, mas indo além da bancada do laboratório, traduzindo o conhecimento produzido em ações concretas.
Programas como o PAPL podem abrir caminho para uma ciência mais diversa e integrada. Nesse sentido, acredito que essas iniciativas de formação descentralizada, redes de colaboração horizontal e intercâmbios interinstitucionais podem fomentar novas políticas públicas e tornar esse tipo de oportunidade mais acessível. Porque não se trata de “levar ciência para a Amazônia”, mas de ouvir, aprender e crescer com a ciência que já é feita por lá com excelência.
O caminho da integração científica no Brasil pode começar com deslocamentos concretos pelo nosso território. Como o meu.