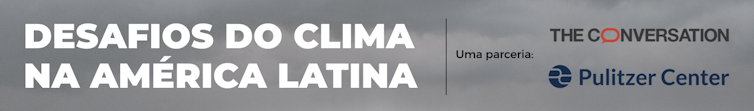O artigo abaixo é o quarto da parceria do The Conversation Brasil com o Pulitzer Center, que desde 2006 apoia jornalistas e produz reportagens e relatórios aprofundados sobre questões de relevância global. Nesta parceria, publicamos artigos sobre os efeitos das mudanças climáticas na América Latina, e o que ainda pode ser feito para minimizá-las. No texto abaixo, Sergio Pereira Leite e Karina Kato, do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ) descrevem as contradições do governo brasileiro na sua tentativa de conciliar os investimentos e subsídios ao agronegócio com a preservação dos nossos principais biomas nativos.
Às vésperas da COP 30, o Brasil busca se afirmar como potência ambiental e alimentar, mas carrega contradições que fragilizam essa narrativa. Em discurso na abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula declarou que esta será a “COP da verdade”, o momento em que líderes mundiais deverão comprovar a seriedade de seus compromissos com o planeta. Há décadas o país tenta se posicionar como potência emergente apoiada em dois pilares — o ambiental e o alimentar.
No campo ambiental, o Brasil reivindica o papel de “guardião da Amazônia” e de ator central na regulação climática global, além de líder em biocombustíveis e energias renováveis. Uma posição que neste mês de outubro de 2025 se fragilizou ainda mais, com a aprovação, pelo Ibama, da primeira licença para perfuração de um poço exploratório a 500km da foz do Rio Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.
Já no campo alimentar, o país retoma o imaginário do “celeiro do mundo”, sustentado na promessa da intensificação produtiva, afirmando que crescimento econômico e preservação ambiental poderiam caminhar juntos. Essa posição é atravessada por contradições internas: embora os indicadores apontem uma redução geral de 32,4% do desmatamento entre 2023 e 2025, o Cerrado e a Caatinga apresentam percentual elevado de áreas desmatadas em ambos os biomas.
A FAO divulgou que o Brasil saiu do mapa da fome em 2025, embora ainda tenhamos 35 milhões de pessoas (16,5% da população) com dificuldade para se alimentar, segundo a mesma fonte.
Metade da soja do mundo
Como é sabido, o Brasil tornou-se um dos principais players do mercado de commodities agrícolas (produtos comercializáveis no mercado internacional). Previsões da OCDE e FAO apontam que manteremos esse protagonismo na produção e exportação desses bens, pois em menos de uma década, o país deverá responder por cerca de metade da soja e dois terços do açúcar exportados no mundo, além de liderar as exportações de milho e carnes.
Essa tendência vem levando o agronegócio brasileiro a reivindicar a centralidade de suas exportações na garantia da segurança alimentar global, alegando que elas alimentariam cerca de 800 milhões de pessoas.
Mas essa alegação representa apenas um lado da moeda. O aprofundamento da integração do agronegócio brasileiro no sistema alimentar global acentua a interdependência entre o mercado externo e o interno, e traz novos desafios para o desenvolvimento do país. Em particular, com relação à segurança alimentar, às desigualdades fundiárias e à biodiversidade.
Seja pelo estímulo da crise alimentar de meados da década de 2000. Seja pela (nova) demanda crescente por biomassa. Pela presença marcante da China no comércio internacional ou ainda como reflexo das crises energética e financeira internacional. Quaisquer que sejam as razões, o setor agrícola brasileiro vive contínuo movimento de expansão das áreas destinadas à produção dessas commodities (soja, café, milho, arroz e carne bovina, entre outros).
E os preços dessas commodities no mercado mundial condicionam os preços dos alimentos no mercado interno. Elas substituem terras que antes produziam alimentos para o comércio local e regional, impactando a nossa segurança e soberania alimentar e pressionando os preços dos imóveis rurais.
Essa valorização extrema do agronegócio brasileiro abre uma nova frente de conflitos sociais e ambientais no meio rural, tensionando as concepções de ruralidade que se apoiam no fortalecimento da agricultura familiar, produção agroecológica ou na dimensão territorial.
Crescimento x preservação
Em paralelo, a expansão da produção de commodities leva a uma perda contínua na cobertura florestal. Apesar da recente queda do desmatamento em todos os biomas brasileiros em 2025, nos últimos 40 anos o Brasil vivenciou um processo contínuo de perda de áreas naturais (equivalentes a 13% do território).
Hoje o desmatamento se faz presente no Cerrado, com o avanço da fronteira de grãos, e na Caatinga, com a expansão agropecuária e de empreendimentos de energia eólica e solar.
Esse quadro agrava a crise climática. Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), em 2023, a agropecuária seria responsável por 74% das emissões no Brasil, sendo 46% delas derivadas de mudanças no uso da terra.
Narrativa suspeita
Tudo isso nos leva a suspeitar da narrativa que defende a conciliação entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. O conceito de land sparing (intensificação sustentável), embora não seja um consenso científico, é repetidamente utilizado para justificar o aumento das atividades produtivas sob o rótulo da sustentabilidade.
Mas, devido ao efeito rebote e ao acoplamento entre diferentes atividades e/ou regiões, essa intensificação vem acompanhada pelo aumento da espacialização da produção agrícola. Ou seja, o mesmo agronegócio modernizado de grãos que se intensifica aplica seus ganhos na compra de terras mais baratas, em áreas de fronteira – antes ocupadas por pecuária e/ou florestas – que demandam novos desmatamentos ou ocupação de reservas.
Reprimarização da economia
Esse movimento tem resultado numa “reprimarização” da nossa economia e das exportações. Desde 2018, a participação dos produtos primários no total de bens exportados tem sido superior a 50%, fragilizando a posição externa brasileira ao concentrar a geração de divisas em bens de baixo valor adicionado e preços sujeitos a enormes instabilidades. O que reforça a dependência a mercados no exterior que podem trazer surpresas. Como o próprio “tarifaço” aplicado pelos Estados Unidos recentemente.
Além disso, lembramos que as lógicas produtivas das cadeias agroalimentares estão cada vez mais associadas e condicionadas aos processos de financeirização da agricultura e da terra.
Neles, novos instrumentos financeiros direcionados à agricultura e aos recursos naturais vêm crescendo ao redor do mundo. Eram 43 em 2005, e pularam para 960 em 2023, segundo dados do Valoral Advisors. Com especial atenção ao Brasil, fazendo do meio rural fonte de ganhos especulativos, reforçando a pressão pelo controle das terras. Processo semelhante é observado no caso dos ativos ambientais (green bonds), baseados numa taxonomia sustentável que precisa ser mais bem discutida.
Conclusão
O Brasil expõe contradições quando almeja conjugar a posição de “celeiro do mundo” e de “centralidade na sustentabilidade do planeta”. A presidência da COP 30 postula uma “nova geração de conferências climáticas” que operam como plataformas sistêmicas de aceleração de processos em direção a um futuro definido por resultados, solidariedade e propósito em comum.
Mas o sucesso da conferência não será medido apenas pelos discursos em Belém. E sim pela capacidade de o Brasil e o resto do mundo enfrentarem as contradições que hoje alimentam a fome, aceleram o desmatamento e corroem nosso futuro climático – exigindo uma revisão urgente desse padrão produtivo e financeirizado.