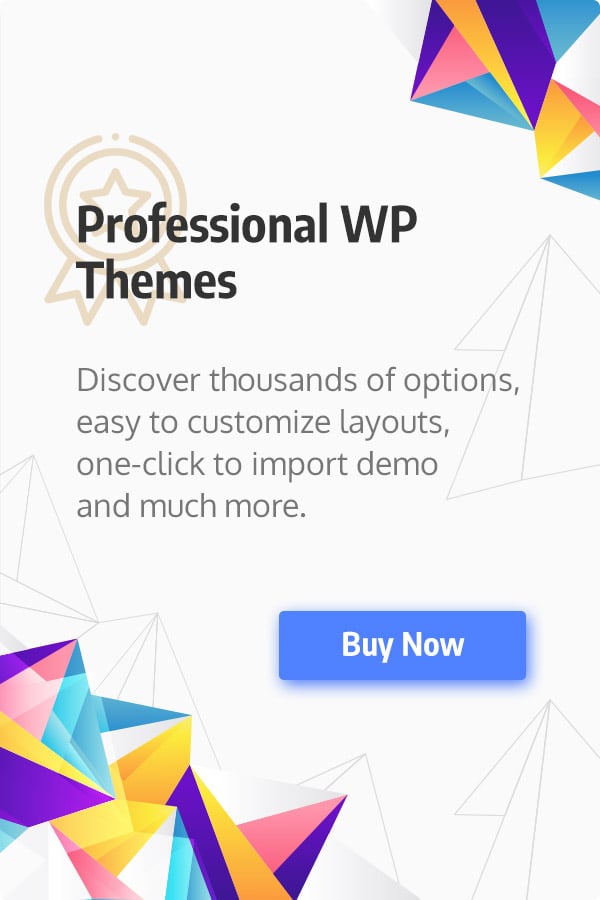Os mais de 120 corpos do maior massacre da história recente do Rio de Janeiro, ocorrido sob o pretexto de “combater o terror” em 28 de outubro nas favelas do Alemão e da Penha, antes mesmo de serem identificados foram motivo de ressurgimento de uma retórica perversa: a tentativa de enquadrar o tráfico de drogas brasileiro como terrorismo.
Trata-se de uma formulação jurídica e politicamente perigosa, que busca alargar de modo arbitrário o conceito de terrorismo para legitimar ações de exceção e o uso desmedido da força estatal — num país já atravessado pela seletividade penal, pela criminalização da pobreza e pelo racismo institucional.
Read more: Lula na ONU: crime organizado não é terrorismo
No calor da tragédia e com evidentes intenções políticas, autoridades e parlamentares evocaram o modelo de El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele instituiu um regime de encarceramento em massa sob a bandeira do “combate às gangues”. A experiência salvadorenha, celebrada pela extrema direita global, tornou-se símbolo não de eficiência, mas de suspensão de direitos fundamentais.
Sob o pretexto de combater as maras — gangues urbanas historicamente enraizadas na pobreza e na exclusão social —, o governo salvadorenho decretou estado de exceção permanente desde março de 2022, restringindo direitos como o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito de defesa.
Mais de 80 mil pessoas foram presas, muitas sem acusação formal, e o país converteu-se em ícone da “tolerância zero”, aplaudida pela extrema direita latino-americana. Não por acaso, tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) quanto o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos têm denunciado sistematicamente as violações desse modelo.
A tentativa de importar tal paradigma para o Brasil ignora que o Estado Democrático de Direito, consagrado pela Constituição de 1988, veda expressamente medidas de exceção em matéria penal. A Lei Antiterrorismo brasileira (Lei nº 13.260/2016), aprovada sob forte vigilância internacional, define o terrorismo como a prática de atos motivados por extremismo político, ideológico ou religioso, com o propósito de provocar terror social ou generalizado.
Classificação sugerida distorce direito internacional
O tráfico de substâncias ilícitas, ainda que violento e estruturado, é um crime de natureza econômica, não política — e, portanto, não se enquadra nessa definição. Denominá-lo “terrorismo” não é apenas juridicamente errôneo: é politicamente maldoso. O rótulo abre espaço para a expansão da já existente militarização dos territórios periféricos — quase sempre habitados por população negra e pobre. Sob a fachada de combater o “inimigo interno”, o Estado se autoriza a violar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, 1969), ambos ratificados pelo Brasil, que proíbem detenções arbitrárias, execuções extrajudiciais e o uso desproporcional da força. A classificação como narcoterror não se esgota na dimensão legal ou de Justiça criminal: na prática, implica uma tácita autorização política para intervenções externas de natureza imperialista, em franco desrespeito à soberania nacional.
O Direito Internacional Humanitário, por sua vez, aplicável apenas a conflitos armados, tampouco legitima essa equivalência. O tráfico de drogas não constitui um ator político com comando unificado, ideologia ou objetivo de alcançar o poder estatal — elementos que caracterizam grupos insurgentes ou terroristas. Classificá-lo como tal é distorcer as bases do direito internacional para legitimar uma “guerra” interna de caráter racializado, sustentado no racismo institucional, em que as vítimas são sempre as mesmas: jovens negros e pobres das periferias urbanas deste país.
Pois foi justamente no ambiente de comoção e “confusão” conceitual premeditada que, em 28 de outubro, a ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, declarou ao jornal La Nación que as principais facções brasileiras — o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) — seriam classificadas como organizações terroristas na Argentina. A afirmação da ministra na data do massacre no Rio veio acompanhada da informação de que 39 brasileiros foram encarcerados em território argentino, incluindo cinco membros do CV e oito do PCC, todos mantidos em regime de isolamento absoluto para evitar a reprodução das dinâmicas carcerárias observadas no Brasil e no Paraguai. A atitude do governo Milei acende um alerta regional.
Ao importar a linguagem do terrorismo — historicamente usada para justificar perseguições políticas e regimes de exceção —, corre-se o risco de dissolver a fronteira entre segurança pública e defesa nacional, entre crime comum e ameaça ideológica, entre política penal e guerra interna. Essa reclassificação, quando não amparada por marcos jurídicos internacionais, entra em choque com os tratados universais de direitos humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), o Pacto de San José da Costa Rica e os Princípios e Diretrizes das Nações Unidas sobre o Uso da Força e Armas de Fogo por Agentes da Lei, todos eles vedando práticas de criminalização coletiva, detenções arbitrárias e execuções sumárias.
Brasil tem obrigação de assegurar parâmetros constitucionais
O Brasil, signatário desses instrumentos, tem obrigação de assegurar que a persecução criminal de operadores do tráfico se mantenha dentro dos parâmetros constitucionais, assegurando, inclusive, o verdadeiro significado de segurança pública. O artigo 5º da Constituição Federal garante o devido processo legal e a presunção de inocência, princípios incompatíveis com operações militarizadas que transformam comunidades inteiras em zonas de guerra. Ao qualificar traficantes como “terroristas”, o Estado amplia perigosamente o escopo do inimigo interno, legitimando ações que podem atingir indistintamente civis, moradores de favelas e jovens negros — alvos recorrentes da política de segurança seletiva brasileira.
A insistência em tratar a violência urbana como terrorismo é, no fundo, uma forma de transferir a responsabilidade do Estado e de seus organismos. É a tentativa de converter o fracasso de políticas públicas tão almejadas pelas populações periféricas, como educação, cultura, trabalho e moradia, em narrativa de guerra. O massacre do Rio de Janeiro não foi um ato antiterrorista: foi o sintoma de um Estado ausente que escolheu militarizar o território e desumanizar seus cidadãos, renunciando a enfrentar as verdadeiras raízes do problema.
A história recente de El Salvador demonstra que a retórica da “ordem pela força” produz apenas o silêncio do medo. Medo, inclusive, que tem sido a maior arma da extrema direita ao redor do mundo. O verdadeiro caminho para a segurança — como sustentam os Princípios de Mandela das Nações Unidas sobre o Tratamento de Pessoas Presas (2015) e as recomendações do Comitê contra a Tortura — passa pelo fortalecimento das garantias processuais, pelo controle civil das forças de segurança, pela redução drástica do encarceramento em massa e pela humanização das polícias. E deveria também passar pelo fim do proibicionismo e da ineficaz “guerra às drogas”. Em vez de importar modelos autoritários, os governantes e os congressistas deveriam, diante de tamanha tragédia, reafirmar seu compromisso com os direitos humanos e a justiça racial. Nenhuma sociedade se torna mais livre ao abdicar de seu próprio direito (e dever) de ser justa. E é sobre justiça racial que estamos falando.