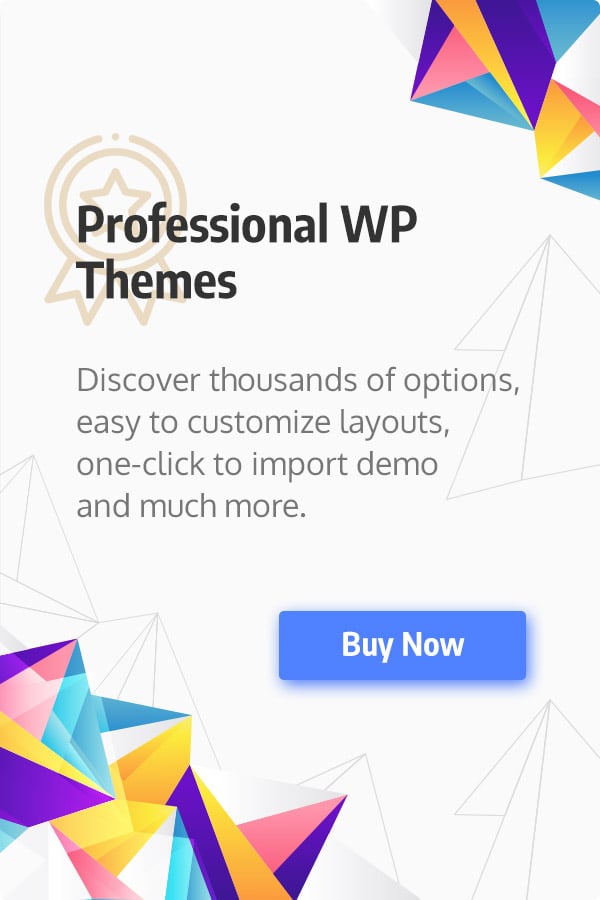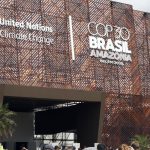Em 22 de abril de 2025, o Brasil testemunhou um evento simbólico de enorme carga histórica e religiosa: a chegada da Cruz da Primeira Missa. Segundo Lizzie Nassar, em matéria ao site RFI, “A relíquia, que saiu do Tesouro-Museu da Sé de Braga, em Portugal, passou por Lisboa, Fátima e Cascais antes de chegar ao Brasil. A cruz, de 40 centímetros, simboliza a chegada do cristianismo ao Brasil e representa a esperança, a fé e a união do povo brasileiro”.
Este ícone religioso, que remonta ao momento em que a fé católica foi imposta às terras brasileiras no século XVI, tornou-se um símbolo não apenas da religião, mas também da narrativa colonial que moldou as fundações do Brasil. Quando essa cruz foi trazida de volta para o país, a ação não foi simplesmente uma rememoração do passado, mas uma tentativa de reforçar uma memória oficial, um gesto que ecoou com grande reverberação política e simbólica.
É importante deixar claro, desde o início, que minha análise não se destina a questionar a fé religiosa de ninguém, nem as crenças espirituais que indivíduos ou comunidades possam possuir. O que proponho é uma análise histórico-antropológica que busca entender o papel simbólico e as implicações sociais dessa cruz, especialmente no contexto de sua chegada contemporânea.
A cruz, nesse sentido, é vista como um artefato cultural carregado de significados profundos, que se inscrevem em uma longa história de colonialidade e dominação simbólica. Minha proposta é compreender como esse gesto reaviva um processo histórico que envolve a imposição de um modelo cultural e religioso sobre povos e culturas que não pertenciam a essa tradição.
Símbolo carregado de poder
Para entender as implicações desse evento, é necessário refletir sobre a função da cruz como um símbolo carregado de poder, muito além de sua representação religiosa. Desde sua chegada em 1500 na Praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, a cruz esteve entrelaçada com o processo de colonização do Brasil, operando como um dispositivo de poder utilizado pela coroa portuguesa para submeter as populações indígenas e africanas à cultura e religião europeias.
Não era apenas um símbolo da fé católica, mas um instrumento de dominação. A presença da cruz marcou o início do que considero por ciclo de violência, ou seja, que faz referência à evangelização forçada e destruição das cosmovisões e espiritualidades nativas.
Hoje, no Brasil de 2025, o retorno da cruz não é simplesmente um eco do passado, mas uma atualização desse processo. O evento de sua chegada reforça uma narrativa que persiste no imaginário nacional: o Brasil é, antes de tudo, uma nação cristã, e essa identidade cristã é indissociável da sua fundação. O que se apresenta como uma celebração religiosa, em sua essência, é um reavivamento de uma história de imposição cultural e racial, onde a voz dos povos indígenas e afro-brasileiros continua silenciada.
A leitura crítica dessa ação, à luz da teoria decolonial, permite-nos perceber a colonialidade do poder que ainda domina as estruturas simbólicas e sociais do Brasil. Ao trazer a cruz de volta, em 2025, não se trata apenas de relembrar um momento histórico, mas de reforçar uma visão unívoca da história, onde a narrativa do colonizador é a que prevalece, e onde as histórias dos subalternos — aqueles que resistiram e ainda resistem à imposição do cristianismo e da cultura europeia — são apagadas. Ao realizar este gesto, as instituições que promoveram a peregrinação da cruz não apenas evocam o passado colonial, mas reafirmam a hegemonia cultural e religiosa que se perpetua no presente.
Como Michel Foucault e Homi Bhabha indicam em suas obras, a produção de saberes sobre a história e as culturas também é uma questão de poder. O simbolismo que envolve a cruz vai além de sua representação religiosa; ele é também uma forma de reafirmar o controle sobre a memória coletiva e, consequentemente, sobre as pessoas. Em outras palavras, a presença da cruz no espaço público não é apenas uma evocação religiosa, mas um ato de produção e controle simbólico que busca manter viva a narrativa hegemônica do colonialismo.
Este retorno não é apenas uma questão religiosa. Ele se insere dentro de um processo de renovação simbólica do colonialismo, que se disfarça de gesto cultural ou religioso inofensivo, mas que na realidade alimenta um ciclo de exclusão e marginalização. A cruz, neste contexto, se torna uma metáfora do poder simbólico que, ao invés de promover a reconciliação e o diálogo interreligioso, reforça as divisões históricas entre as diferentes comunidades que compõem a sociedade brasileira.
No entanto, a decolonização dos símbolos e das narrativas históricas exige mais do que um simples afastamento da cruz ou de outros símbolos do colonialismo. Ela demanda uma reinterpretação da história e da memória, que reconheça as múltiplas vozes e cosmovisões que foram historicamente marginalizadas. O Brasil, ao longo dos séculos, construiu sua identidade a partir de uma versão da história que apaga a contribuição e as resistências dos povos indígenas, negros e outros grupos não-europeus. A cruz, como um símbolo dessa versão oficial, precisa ser desconstruída e ressignificada.
A chegada da cruz ao Brasil, em 2025, não pode ser vista de maneira simplista pela sociedade, e sobretudo por nós, historiadores e cientistas sociais como um retorno à história de fé, mas sim como um desafio à memória coletiva. A questão não é apenas sobre o que a cruz representa religiosamente, mas sobre o que ela ainda carrega como um símbolo de dominação cultural. Ela remete à ideia de uma identidade nacional que foi construída, em grande parte, a partir da exclusão e do apagamento de outras identidades. A reconciliação, portanto, passa pelo reconhecimento da diversidade de saberes, histórias e religiões que compõem o Brasil.
Oportunidade de questionamento
Por fim, o evento de 2025 serve como um convite à reflexão crítica sobre os símbolos que sustentam nossa compreensão do passado e do presente. O retorno da cruz não é apenas um marco religioso, mas também uma oportunidade de questionar as estruturas de poder que ainda moldam o Brasil contemporâneo. Para que possamos avançar em direção a uma verdadeira justiça histórica e simbólica, é essencial que a memória nacional seja descolonizada, permitindo que as histórias dos povos indígenas, afro-brasileiros e outros grupos marginalizados sejam finalmente reconhecidas e celebradas. A cruz, nesse sentido, pode se tornar um símbolo de reconciliação. Mas apenas se for capaz de carregar as vozes de todos os povos que, ao longo da história, foram silenciados.
A chegada da cruz nas terras brasileiras em 1500, associada à primeira missa celebrada no Novo Mundo, é muitas vezes vista como o marco inaugural da tal “civilização” e da evangelização no Brasil. Contudo, essa narrativa tradicional esconde o fato de que o cristianismo, ao ser imposto, representou um processo de epistemicídio e etnocídio para os povos indígenas e africanos, que foram forçados a renunciar suas práticas espirituais em nome da “civilização” cristã.
O reencobrimento contínuo do ‘outro’ e o mito da origem unívoca
O evento de 2025, com a peregrinação da cruz por diversas cidades brasileiras, evoca o mito fundacional da nação, no qual o cristianismo e a figura de Cristo se tornam as bases da identidade nacional. O filósofo argentino Enrique Dussel conceitua o processo de colonização como um “encobrimento do outro”, ou seja, uma negação ativa da alteridade para estabelecer o sujeito europeu como centro da história. A cruz, ao ser reencenada, simboliza esse apagamento, pois reafirma a história oficial como única, marginalizando outras cosmovisões e espiritualidades que coexistiram com o cristianismo desde o período colonial.
Como a produção da história oficial é um processo ativo de silenciamento? A presença da cruz, em sua jornada midiática e institucionalizada, serve para reforçar uma narrativa homogênea, invisibilizando as histórias dos povos que foram explorados e mortos em nome da fé cristã. A memória oficial, ao se construir a partir de uma única perspectiva, não deixa espaço para as múltiplas histórias e resistências que compõem a realidade brasileira.
Decolonizar a cruz pela reinvenção dos sentidos
A análise decolonial exige mais do que uma simples crítica das instituições coloniais. Pensemos que a decolonização envolve a reinvenção das formas de pensar, sentir e existir. No caso da cruz da Primeira Missa, a decolonização não passa apenas pela crítica do uso político-religioso do símbolo, mas pela reinvenção de seus sentidos. Para isso, é necessário questionar quais vozes foram silenciadas por essa cruz e quais saberes podem ser recuperados. A decolonização também implica reconhecer as cosmovisões indígenas, afro-brasileiras e outras culturas que têm sido sistematicamente marginalizadas e apagadas em nome da supremacia cristã e europeia.
Essa ética da memória deve ser construída a partir de uma reconciliação histórica, que não celebre a violência como gesto fundacional, mas que reconheça e valorize as diversas identidades que coexistem no Brasil. O desafio, portanto, é abrir espaço para as narrativas que resistem e para as espiritualidades que insistem em existir, apesar da tentativa de apagamento histórico promovida pela cruz e pelos símbolos coloniais.
A chegada da Cruz da Primeira Missa ao Brasil deve ser entendida como parte de um processo simbólico que reafirma a colonialidade do poder, utilizando a religião como ferramenta de controle social e político. A leitura decolonial e antropológica aqui proposta revela como esse gesto, longe de ser uma simples celebração religiosa, serve para reforçar a memória oficial, que apaga as histórias e resistências de povos indígenas, afro-brasileiros e outras minorias. É urgente que essa memória seja descolonizada, dando voz e visibilidade às culturas e espiritualidades que resistem à imposição de um único símbolo sagrado. Descolonizar a cruz, portanto, é um ato de justiça histórica, que busca abrir caminho para uma nova compreensão da identidade e da história brasileira, baseada na diversidade, na pluralidade e na justiça social.