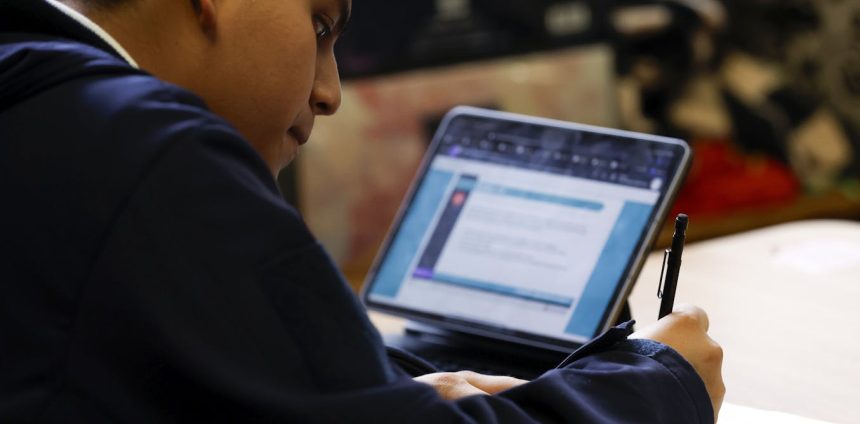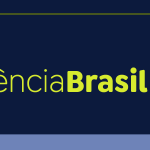Nos últimos anos, iniciativas de educação midiática ganharam força no Brasil e no mundo como resposta ao avanço da desinformação. O governo federal, por exemplo, lançou em 2023 a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, para orientar políticas públicas nessa área.
É um passo relevante. Mas, como mostram pesquisas recentes, há pelo menos três limites que precisamos levar em conta ao pensar nesse tipo de intervenção.
Primeiro limite
O primeiro limite é conceitual: afinal, do que exatamente estamos falando? “Educação midiática” virou um guarda-chuva que abriga práticas muito distintas. Um estudo publicado na revista American Behavioral Scientist mostra que é preciso separar quatro dimensões diferentes: educação midiática, educação informacional, educação noticiosa e educação digital.
Só uma delas — a educação informacional, ligada à capacidade de buscar, avaliar e usar informações de modo crítico — sugere influência positiva na identificação de fake news. Essa distinção conceitual ainda não está incorporada às políticas públicas e gera o risco de dispersar esforços em iniciativas pouco efetivas. Contra esse risco, é importante realizarmos mais testes sobre a eficácia de intervenções.
Segundo limite
O segundo limite é o momento da intervenção. Um experimento de campo na Índia, publicado na American Political Science Review, avaliou os efeitos de treinamentos de educação midiática em 1.224 participantes, conduzidos por educadores em visitas domiciliares.
A expectativa era que, ao aprenderem a distinguir informações verdadeiras de falsas, os cidadãos passassem a compartilhar menos informações falsas. O resultado foi mais complexo: entre apoiadores do partido governista, a capacidade de identificar notícias falsas piorou após a intervenção. Esse efeito sugere que, em contextos altamente polarizados, o chamado “raciocínio motivado” pode fazer com que as pessoas filtrem as informações de acordo com suas crenças prévias, rejeitando até mesmo conteúdos verdadeiros quando parecem vir do “outro lado”.
Ou seja, iniciativas de educação midiática da Justiça Eleitoral podem ser bem-vindas neste ano, mas não no segundo semestre de 2026, em plena campanha eleitoral.
Terceiro limite
O terceiro limite diz respeito às condições reais de implementação. Estudo realizado em uma escola pública de Brasília e recém-publicado no Journal of Media Literacy Education mostrou como professores enfrentam dificuldades práticas para incorporar a educação midiática em sala de aula.
A pesquisa acompanhou oficinas com adolescentes e revelou que muito depende do engajamento voluntário dos docentes, que nem sempre recebem apoio institucional ou incentivos claros para incluir o tema em seus planos de ensino. Esse gargalo ameaça a sustentabilidade das iniciativas, já que políticas públicas podem ser bem desenhadas, mas perdem eficácia se não houver condições concretas para que professores as coloquem em prática.
Essas três lições são importantes para o Brasil. Primeiro, precisamos definir melhor de que tipo de educação midiática estamos falando. Segundo, devemos evitar lançar intervenções em momentos de intensa polarização política, como em campanhas eleitorais, quando os efeitos podem ser contraproducentes. Terceiro, é fundamental oferecer condições reais de implementação, com apoio pedagógico e valorização docente.
Reconhecer limites não significa desmerecer esforços. Pelo contrário: enfrentar esses desafios é a única forma de transformar boas intenções em resultados concretos contra a desinformação. Educar para a mídia ajuda — mas não em qualquer hora, nem de qualquer jeito.