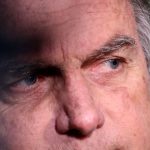O The Conversation Brasil publica hoje o primeiro artigo de uma parceria com o Conversatório Latino-Americano (Conlat), iniciativa conjunta de quatro centros acadêmicos de excelência situados em diferentes países da América Latina – Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), Universidad de los Andes, Universidad Torcuato Di Tella e Colegio de Mexico. O Conlat conta com o apoio da Fundação Ford e tem o compromisso de impulsionar um diálogo plural e informado entre atores e vozes da América Latina sobre os desafios críticos da região. Neste primeiro artigo, Thiago de Souza Amparo, professor de direito internacional e direitos humanos nas escolas de Direito e Relações Internacionais da FGV em SP, e Lígia de Souza Cerqueira, advogada e mestranda em direito internacional pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), discorrem sobre a necessidade urgente de o Brasil se adequar às normas internacionais que guiam a conduta dos agentes da lei em conformidade com os direitos humanos universais da ONU.
A violência no Brasil não é aleatória. Ela segue um padrão que atinge principalmente pessoas negras e pobres. E pior: o Estado, por meio de suas palavras e ações, dá aval para que isso aconteça.
A fim de explicar esse fenômeno, propomos estabelecer uma comparação entre o contexto global e o retrocesso democrático no Estado brasileiro a partir de uma análise sobre a proximidade da agenda política do país com a agenda política da pauta racial estabelecida nos Estados Unidos nas últimas décadas.
O objetivo é compreender se e de que forma as experiências desses dois países se conectam, tendo em vista seu passado comum com o emprego da mão de obra escravizada enquanto base de sua economia.
Além disso, ambos os países tiveram a abolição no mesmo período histórico, gerando cenários de marginalização de pessoas desses grupos, levando a padrões persistentes de marginalização que reverberam até hoje.
Na pós-abolição do Brasil, a criminalização da capoeira e da prática de rituais ligados à religiões de matriz africana tinha como finalidade gerar controle social de forma racializada, tornando possível prender pessoas negras por simplesmente se expressarem culturalmente.
Nos Estados Unidos, o conjunto de leis estaduais e locais conhecida como “Jim Crown”, que impunham segregação racial nos estados do sul a partir do impedimento de acessos igualitários a escolas e serviços de saúde de qualidade, marginalizaram a população, e acabou se tornando o propulsor dos movimentos civis.
Em paralelo, na primeira e segunda metade do século XX, o mito da democracia racial brasileira mascarou desigualdades e retardou avanços. Antes mesmo de propor o estabelecimento de uma agenda contra a discriminação racial, os movimentos negros nacionais tiveram de convencer as instituições públicas e parte da sociedade de que de fato existe racismo no país, e que este fator era o principal entrave para o avanço social de pessoas não-brancas.
Mudanças a partir do assassinato de George Floyd
Após o assassinato de George Floyd – homem negro que, após ser abordado por policiais no estado de Minnesota, faleceu em razão do uso excessivo da força empregado pelos agentes – e as mobilizações do Black Lives Matter que a seguiram, a ex-relatora Tendayi Achiume defendeu a criação de comissões de inquérito para investigar o racismo na aplicação da lei nos EUA e globalmente.
Apesar de resistência, especialmente do governo Trump, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, em julho de 2021, a Resolução nº 47/21, criando o Mecanismo Internacional de Especialistas Independentes para a Promoção da Justiça Racial (EMLER), composto por juristas de diferentes regiões a fim de acompanhar respostas estatais a protestos antirracistas, monitorar o uso da força e propor reformas institucionais.
Mortes atingem principalmente a população negra
No cumprimento de suas atividades, o EMLER visitou países como EUA, Colômbia e Brasil. Sobre o Brasil, o órgão concluiu que o uso excessivo da força policial é responsável por milhares de mortes e pelo encarceramento em massa, atingindo de forma desproporcional a população negra. Essa letalidade, associada à política de “guerra ao crime”, foi interpretada como parte de um processo de “limpeza social” voltado à eliminação de setores considerados indesejáveis.
Para minorar essas questões, os especialistas recomendaram a adoção de medidas como o uso obrigatório de câmeras corporais, revisão da política de drogas e da legislação federal sobre uso da força alinhada a padrões internacionais. Em reforço, o Relatório Anual do ACNUDH (2024) apontou que, no Brasil, operações policiais altamente militarizadas em favelas incluem supostos casos de execuções extrajudiciais e tortura, vitimando majoritariamente afro-brasileiros, incluindo mulheres grávidas e crianças.
A relação entre o uso da força pelo Estado e a proteção dos direitos humanos constitui um dos maiores desafios contemporâneos da justiça global. Reconhecendo o potencial de abuso inerente ao exercício do poder coercitivo, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (OHCHR), estabeleceu um conjunto abrangente de normas internacionais para guiar a conduta de agentes de aplicação da lei em conformidade com os direitos humanos universais (Código de Conduta para Oficiais Responsáveis pela Aplicação da Lei), uma vez que o direito internacional em si não dispõe de normas específicas e vinculantes para enfrentar o racismo estrutural na atuação policial.
Além disso, os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo estabelecem parâmetros que reforçam que a força letal só pode ser usada como último recurso em situações de ameaça iminente à vida, exigindo, ainda, que os Estados forneçam treinamento adequado, supervisionem suas forças de segurança e garantam responsabilização efetiva em casos de abuso.
Lidas em conjunto, essas diretrizes apontam para uma visão de segurança pública baseada não na repressão, mas na proteção ativa dos direitos e liberdades civis e buscam desafiar os Estados a estruturar suas instituições de segurança não como instrumentos de poder autoritário, mas como garantidores do bem comum, submetidos ao escrutínio democrático e à ética universal dos direitos humanos.
Apesar disso, a implementação desses padrões ainda enfrenta obstáculos substanciais como o avanço de governos de extrema direita, sobretudo em contextos onde o aparato policial é marcado por autoritarismo, racismo estrutural ou impunidade. A superação desse cenário exige não apenas reformas institucionais, mas um compromisso genuíno com a cultura dos direitos humanos por parte dos Estados e dos atores de suas forças de segurança.