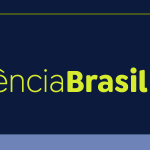O artigo abaixo é fruto de uma parceria do The Conversation Brasil com o movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30, criado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com o objetivo de ampliar a participação de populações ribeirinhas e povos originários da região no processo das negociações climáticas que ocorrerão durante a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Belém, ampliando a visibilidade das propostas de soluções para combater os efeitos do aquecimento global que estão sendo gestadas na região.
A COP 30, em Belém, coloca os jovens da Amazônia em evidência. Mas será que o ativismo climático digital está gerando engajamento político — ou estresse emocional?
Em 2025, a juventude está no centro das atenções da agenda climática. Estamos falando de uma geração que é herdeira dos avanços das mudanças climáticas e, acima de tudo, que é agente ativa pelas políticas públicas que podem decidir o futuro. Essa juventude está também no centro das redes sociais e das disrupturas tecnológicas — e esses temas dialogam entre si.
Com a realização da COP 30 em Belém, na Amazônia brasileira, os holofotes se voltam para as vozes jovens da região e ecoam nos meios de comunicação utilizados. Nesse cenário, as redes sociais se consolidam como espaço de engajamento e mobilização política, especialmente entre os jovens que vivem em centros urbanos amazônicos.
Porém, o ativismo digital vem acompanhado de dilemas: exposição constante, desinformação, sensação de insuficiência e ecoansiedade. O mesmo ambiente que amplifica vozes pode também gerar silenciamento e sobrecarga.
Como transformar esse engajamento em ação política efetiva e duradoura, sem adoecer quem luta por justiça climática?
As redes sociais como palco de engajamento
“Consciência climática para sustentar o céu”. Essa foi a mensagem comum criada por dez coletivos de jovens da Amazônia Legal e do Distrito Federal, lançada em 16 de março de 2025 em suas redes sociais. As plataformas digitais se consolidaram como espaços de mobilização da juventude brasileira. Em 2022, mais de 79% da população nacional usava redes sociais regularmente, número ainda maior entre os mais jovens.
Para muitos jovens, especialmente nas periferias e nos centros amazônicos, as redes funcionam como ponto de encontro e denúncia, além de espaços de formação política informal. Hashtags como #JuventudePeloClima e vídeos com denúncias ambientais compõem uma arquitetura de engajamento fragmentada, mas potente.
Entre jovens amazônidas, cresce um movimento de crítica às próprias plataformas. Coletivos como o Engajamundo (@engajamundo), a Rede Jandyras (@redejandyras) e iniciativas de comunicação comunitária como o Coletivo Indígena Mairi, do Pará (@coletivomairi), e o Movimento Jovens do Futuro, do Acre (@soujovemdofuturo), desafiam a lógica dos algoritmos com narrativas enraizadas em seus territórios. Denunciam violações, visibilizam soluções locais e aprendem, na prática, que comunicar é resistir.
A exaustão do engajamento
Se as redes ampliam o pertencimento, também impõem novas formas de pressão. O ativismo climático digital exige presença constante, atualização e reação. A sensação de estar ficando para trás — o FOMO ( Fear of Missing Out, ou seja, medo de ficar de fora, de perder uma “novidade”) — é comum, sobretudo diante de causas urgentes e complexas.
Além disso, há a lógica da performance: ativistas jovens devem saber comunicar, fazer design, roteiro e ainda cuidar da sua saúde mental. A pressão por posicionamentos, o medo do cancelamento e a vigilância coletiva geram ansiedade e afastam quem mais precisa de acolhimento. A indignação pode virar cansaço.
Entre jovens da Amazônia, as desigualdades estruturais e raciais agravam o quadro. Há desafios estruturais, como falta de acesso contínuo à internet, celulares compartilhados ou retaliações por denúncias. Outras vezes, há o esvaziamento simbólico: são convidados a espaços institucionais apenas como “cotas juvenis”. Isso gera frustração e sensação de impotência.
Esse contexto favorece o surgimento da ecoansiedade, termo popularizado pelo Fridays for Future. Mais que reação individual, trata-se de uma resposta geracional à avalanche de más notícias e à lentidão das respostas políticas.
No Brasil, essa resposta soma-se ao estado emocional geral dos jovens. Segundo a pesquisa Juventudes no Brasil 2021, apenas 25% associam juventude à felicidade. A maioria expressa desconfiança nas instituições políticas e no governo. Sustentar o engajamento juvenil implica, portanto, cuidar de quem se engaja.
Comunicar o clima de forma engajadora e não opressiva
A comunicação climática frequentemente adota um tom de urgência. Embora necessário, esse tom pode ser paralisante, especialmente quando distante da realidade vivida. Jovens que convivem com enchentes, calor extremo e ausência de serviços básicos tendem a não se mobilizar com mensagens apocalípticas, mas com convites à ação concreta.
É preciso substituir a linguagem do medo por uma linguagem de possibilidades. Campanhas que valorizam territórios, promovem esperança e conectam experiências reais são mais eficazes, especialmente entre quem não se reconhece em narrativas globais genéricas.
Narrativas de pertencimento, construídas a partir de vozes locais, deslocam o foco. Quando jovens indígenas compartilham saberes ancestrais ou ribeirinhos mostram soluções para a gestão da água, o clima se torna uma questão de vida, não de futuro. A comunicação feita por jovens da Amazônia é mais potente — e mais ética.
É o caso da Yellow Zone, coletivo que surgiu em Belém (PA) para articular juventudes periféricas, negras e indígenas a partir de seus territórios. A iniciativa, vinculada à COP das Baixadas, mobiliza periferias urbanas em torno da COP 30. Ao construir narrativas próprias, esse coletivo amplia o repertório da comunicação climática e fortalece jovens como sujeitos políticos. A experiência pode dialogar com os espaços oficiais e enriquecer a escuta social da COP 30.
Compreendendo essa relevância, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) estabeleceu, durante a COP 26, o compromisso de garantir a presença de representantes jovens nos processos de negociação — surgindo, em anos seguintes, a figura dos Youth Climate Champions. No Brasil, a chamada pública para a Presidência da Youth Climate Champions (PYCC), no contexto da COP 30, recebeu mais de 150 inscrições, com 62% de candidaturas femininas. A vencedora foi Marcele Oliveira, uma produtora cultural carioca que dirige o Perifalab, rede de criação de de lideranças periféricas, vinculada ao Instituto Clima e Sociedade.
A iniciativa representa um esforço institucional relevante para reconhecer a força, diversidade e legitimidade do protagonismo jovem na pauta climática.
Experiências como as oficinas de comunicação com jovens influenciadores da região, as campanhas em rede articuladas por coletivos amazônicos e a atuação em espaços como a COP 30 mostram que é possível comunicar sem oprimir. O desafio é não romantizar o engajamento juvenil, mas criar condições para que ele cresça com dignidade. Isso significa reconhecer o esforço, garantir infraestrutura, respeitar os ritmos e, sobretudo, escutar.
Reconquista da confiança da juventude
A juventude amazônida tem levantado questões fundamentais sobre o modo como comunicamos e vivemos a crise climática. Seu engajamento revela uma geração que não espera apenas ser ouvida, mas que propõe caminhos, denuncia ausências e constrói alternativas. No entanto, para que esse protagonismo se transforme em ação política concreta e duradoura, é necessário criar estruturas que sustentem esse envolvimento sem adoecê-lo.
Parte desse desafio passa por reconquistar a confiança da juventude na política como campo de transformação coletiva. Isso exige mais do que escuta simbólica: pede compromissos reais com representatividade, acolhimento e continuidade. A articulação entre iniciativas como a PYCC e coletivos como a Yellow Zone podem ser uma via potente para essa reconstrução. É a possibilidade de unir o reconhecimento institucional com o enraizamento territorial e urbano.
A sugestão é manter viva a consciência climática, sem deixar que ela sufoque. É cultivar espaços onde jovens possam imaginar e realizar futuros, sem sobrecarga. Sustentar o céu, como dizem os próprios jovens amazônidas, é também cuidar de quem tenta, dia após dia, impedir que ele desabe.