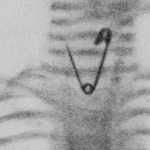Em 2024, o planeta registrou as maiores temperaturas médias já observadas, e o sistema agroalimentar foi responsável por cerca de um terço das emissões globais de gases de efeito estufa. No Brasil, essa proporção sobe para três quartos, o que o torna a principal fonte de emissões no país. Para alcançar as metas estabelecidas por tratados internacionais, como o Acordo de Paris, ainda há um longo caminho a percorrer: precisaremos transformar profundamente a forma como produzimos, processamos, distribuímos, acessamos, consumimos e descartamos alimentos.
Programada para novembro, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre mudança do clima (COP30), acontecerá no coração da floresta amazônica, em Belém (PA). Como anfitrião, o Brasil ocupa lugar de destaque nesta edição, o que pode representar uma oportunidade concreta para que o país lidere o debate global sobre a mudança do clima, trazendo o foco para o sistema agroalimentar.
Para isso, o país ter de enfrentar desafios como a ampliação do financiamento para ações de mitigação e adaptação e a restauração da confiança no multilateralismo. Mas não é só isso: o Brasil precisará demonstrar de que modo pretende alinhar suas políticas a uma transição justa e sustentável.
Na prática, isso significa reconhecer o papel do sistema agroalimentar na crise climática, e analisar como os programas e planos existentes podem impulsionar transformações efetivas nesse sistema.
Três políticas públicas são fundamentais diante desse desafio: o Plano Clima, o Plano de Transformação Ecológica (PTE) e o Plano Safra. Essas políticas mobilizam uma grande quantidade de recursos e, assim, influenciam decisivamente o comportamento dos atores econômicos. Elas também têm um potencial de maior transversalidade, e afetam diferentes áreas de governo e dimensões do funcionamento do sistema agroalimentar.
Em estudo conduzido pela Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Universidade de São Paulo (USP) e pelo Núcleo de Pesquisas sobre Meio-ambiente Desenvolvimento e Sustentabilidade do Cebrap (Cebrap Sustentabilidade), analisamos em detalhe as dimensões dos planos que se relacionam diretamente com o sistema agroalimentar. O objetivo foi tentar entender onde avançamos – e quais são os principais desafios para integração entre agendas climática e agroalimentar no Brasil.
Três planos: o que você precisa saber
O Plano Safra é o pilar financeiro da agricultura brasileira. Com R$ 516 bilhões destinados à agricultura empresarial e R$ 78 bilhões ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ele é o principal programa de crédito para a agricultura familiar. Portanto, é a política com maior poder de ação sobre as práticas produtivas e o uso do solo no país.
Embora o Plano Safra inclua linhas voltadas à agropecuária de baixo carbono, a maior parte dos recursos ainda se concentra em cadeias convencionais, baseadas na expansão de monoculturas. Esse modelo reforça desigualdades regionais e entre segmentos de agricultores. As linhas de financiamento verde voltadas à agricultura familiar, como o Pronaf Agroecologia, Floresta e Bioeconomia, representaram menos de 3% do total concedido na safra 2023/2024. Entre 2011 e 2020, durante a primeira fase do Plano ABC, estavam previstos R$ 197 bilhões em investimentos, mas apenas apenas R$ 21 bilhões foram efetivamente contratados.
Para o Plano Safra se tornar um verdadeiro motor da transição justa e sustentável, é preciso uma reformulação profunda. As mudanças devem buscar eliminar conflitos entre incentivos, garantir uma distribuição mais equitativa dos recursos e alinhar o plano às metas climáticas e ecológicas assumidas pelo Brasil.
O Plano Clima é atualmente um dos eixos centrais da política climática nacional. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, estabelece metas de mitigação e adaptação até 2035. Essas metas estão alinhadas ao Acordo de Paris e aos compromissos assumidos pelo Brasil com o anúncio de sua nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) – mecanismo pelos quais os países estabelecem como irão se inserir nos esforços internacionais pela redução das emissões de gases que causam o aquecimento global.
Entre os avanços do Plano Clima estão a inclusão da restauração florestal e do desmatamento privado impulsionado pela expansão da fronteira agropecuária na contabilização de emissões e no estabelecimento de metas.
O Plano também revela tensões e ambiguidades entre objetivos setoriais que impactam o sistema agroalimentar. No setor energético, a priorização de biocombustíveis tende a expandir monoculturas de cana (etanol) e soja e milho (biodiesel), criando um dilema entre aumento da oferta de energia e preservação da biodiversidade. Ainda em fase inicial, o Plano precisa ser testado e ajustado continuamente para que seus instrumentos se tornem mais robustos, legítimos e efetivos na implementação.
O Plano de Transformação Ecológica (PTE) foi o terceiro e último plano analisado no estudo. Conduzido pelo Ministério da Fazenda, o PTE busca reposicionar a transição climática como motor do desenvolvimento econômico do país. Ele é estruturado em seis eixos, e aposta nas finanças sustentáveis e na inovação tecnológica como motores de crescimento.
O plano pretende reorientar o crédito e os investimentos privados para atividades de baixo carbono por meio de instrumentos como o EcoInvest e a Taxonomia Sustentável Brasileira. O EcoInvest foi criado para impulsionar investimentos privados sustentáveis e atrair capital externo para projetos de longo prazo, contribuindo para diversificar as formas de investimento na transição.
A Taxonomia Sustentável funciona como um sistema de classificação. Ela orienta o mercado financeiro na identificação de atividades alinhadas a práticas ambientais responsáveis. Isso ajuda a evitar o greenwashing — termo que se refere a estratégias de marketing enganosas voltadas a criar uma falsa imagem de sustentabilidade.
Apesar do caráter inovador do EcoInvest e da Taxonomia Sustentável, ainda há dúvidas sobre alcance e equidade dos instrumentos. Esses questionamentos estão voltados especialmente para a inclusão de pequenos produtores nesses processos. A Taxonomia, por exemplo, pode operar com uma classificação binária (“é” ou “não é” sustentável), o que dificulta reconhecer agricultores em processo de transição. Já o mercado de carbono tende a se concentrar em segmentos com maior capital, devido aos altos custos de certificação e à necessidade de apoio administrativo e organizacional. Essas barreiras afastam populações rurais mais vulneráveis.
Por estar em fase inicial, a consolidação do plano dependerá de monitoramento contínuo e da capacidade de ajuste dos instrumentos. Isso vai contribuir para garantir efetividade e legitimidade ao longo do tempo. Também será necessário avaliar como eles se harmonizam com outros programas setoriais, incluindo o Plano Safra, que atualmente apresenta sinalizações ambíguas: em alguns casos, incentiva práticas sustentáveis e regenerativas; em outros, concentra recursos em tecnologias e modelos de negócio convencionais que podem continuar estimulando emissões de gases de efeito estufa.
Desafios da transição
A existência desses planos ou de alguns de seus componentes é sinal de que o Brasil busca aperfeiçoamentos em direção a uma transição sustentável. No entanto, é necessário ir além.
O país ainda precisa alinhar sua ambição climática à atuação de suas instituições e execução de políticas setoriais de forma mais coerente e coordenada.
Para que a transição seja de fato justa e sustentável, destacamos quatro temas críticos que precisam ter atenção no futuro próximo. O primeiro é reformar o crédito rural, para que ele realmente consiga contemplar as práticas alinhadas com as metas climáticas e que valorizem os serviços ecossistêmicos.
O segundo é fortalecer a coordenação entre ministérios e instituições, aproveitando instâncias de governança com alcance transversal já criadas, como o Comitê Interministerial sobre Mudanças Climáticas (CIM). O terceiro é garantir monitoramento e aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos, em especial, aqueles destinados a direcionar recursos financeiros – como a Taxonomia, o mercado de carbono e o EcoInvest.
Por fim, é necessário vincular de forma mais robusta as metas climáticas ao eixo de adaptação. Isso significa dar mais atenção às políticas de inclusão produtiva rural, para que agricultores familiares, povos tradicionais e territórios vulneráveis sejam protagonistas da transição.
Hoje, a soma dos planos não configura uma estratégia de transição justa e sustentável do sistema agroalimentar. Sem reformas mais profundas na distribuição de recursos para o setor agropecuário e sem reduzir as ambiguidades entre os planos, a tendência é que o padrão atual se mantenha. Inovações são disseminadas, mas esforços seguem concentrados em práticas convencionais que contribuem para a crise climática. A construção de uma estratégia eficaz dependerá, portanto, da complementaridade, coerência e compatibilidade entre as políticas públicas existentes.