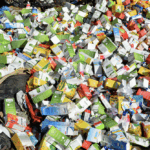Desde que os processos de ocupação do norte brasileiro se aceleraram em nome do desenvolvimentismo do governo militar, cresce na Amazônia uma violência contínua a cada ciclo de apropriação econômica dos espaços e dos recursos da natureza.
Nas últimas décadas do século 20, as políticas ambientais criadas com a redemocratização do país e sob a atmosfera da Eco 92 até buscaram resistir às investidas predatórias sobre a riqueza mineral, vegetal e humana. Mas, desde então, sucedem-se governos e, apesar das regulamentações fundiárias da terra e intervenções do ambientalismo, os conflitos entre indígenas, posseiros e grupos predatórios ainda crescem.
Povos, territórios e culturas amazônicas são violentados desde a colonização. Mas a perpetuação dessa violência em pleno século 21 expõe a gravidade de uma organização nacional incompleta e que retrocede acada avanço de controle ambiental sobre os espaços naturais e sociais.
O caso do Amazonas
O Amazonas é o estado brasileiro com a maior extensão de áreas protegidas, abrigando um patrimônio socioambiental de grande valor global.
Sua vasta área de territórios conservados inclui Unidades de Conservação (UCs), que cobrem 30,21% do território estadual — o equivalente a 47,2 milhões de hectares. Essas áreas são distribuídas em UCs federais (16,96%), como parques nacionais e reservas extrativistas; UCs estaduais (12,05%), geridas pelo governo do Amazonas; e UCs municipais (1,19%), com a atuação de gestões locais na preservação.
Terras Indígenas (TIs) somam mais de 53,7 milhões de hectares, demarcadas em 164 territórios. Esses espaços são essenciais não apenas para a conservação da biodiversidade, mas também para a sobrevivência cultural e material de 61 povos indígenas, guardiões de saberes tradicionais e da floresta tropical.
Além do mais, as Unidades de Conservação do Amazonas sustentam uma abundante diversidade sociocultural, acolhendo aproximadamente 13.805 famílias distribuídas em 713 comunidades. Além dos indígenas, estão entre esses grupos ribeirinhos, seringueiros e quilombolas, cujos modos de vida ajustam-se à lógica sustentável e reforçam a importância dessas áreas para o equilíbrio ecológico e a justiça ambiental.
Um início de século promissor
Entre os anos 2000-2016, o estado do Amazonas criou uma ampla rede de proteção ambiental aos seus territórios, imprescindível para a manutenção dos serviços ecossistêmicos (como regulação do clima e conservação dos recursos hídricos) e para o combate às mudanças climáticas.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) criou diversas Unidades de Conservação (UCs) no estado, abrangendo tanto áreas de proteção integral quanto de uso sustentável. Parques Nacionais, Reservas Biológicas, Reservas Extrativistas, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) foram articulados a um inteligente sistema estadual de meio ambiente, no qual a gestão ambiental e o suporte de politicas públicas de apoio às populações da floresta inspiravam outros estados amazônicos.
Essa atmosfera favorável de apoio político e social local, nacional e internacional permitia ao estado do Amazonas realizar a gestão de grandes áreas de proteção ambiental, controlar as práticas predatórias e investidas de riscos na floresta e integrar municipalidades e populações tradicionais na orientação do paradigma da sustentabilidade.
Mudança brusca de rumos
O contexto político de recepção das políticas ambientais locais mudaram radicalmente desde o golpe civil à presidente Dilma Roussef, com a limitação de iniciativas democráticas e de boas práticas ambientais na era Temer.
No transcurso dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, a iniciativa de uma política ambiental promissora perde força nos níveis local e nacional, e os territórios demarcados não cumprem seu papel. O que se observa é o enfraquecimento de políticas públicas de proteção efetiva, a ausência de fiscalização adequada e falta de apoio às populações tradicionais.
Em 2019, com a chegada de Bolsonaro à presidência, inaugura-se a antipolítica ambiental, marcada pelo desmantelamento dos avanços instituídos e enfraquecimento, nos planos locais, de práticas sustentáveis de proteção ao meio ambiente. A literatura científica indica que este período foi de desmonte da edificação institucional anterior, e que os impactos dessas medidas se prolongam sobre os territórios protegidos.
Ocorrências de racismo e degradação ambiental deploráveis expuseram o horror ambiental praticado no Amazonas, apenas superado pelo ´laboratório da morte´ em que o estado foi transformado no período da epidemia do COVID-19.
A desarticulação de políticas de proteção ambiental, o enfraquecimento institucional das medidas de controle de ilícitos e a autorização explícita e velada de invasão dos territórios indígenas incentivaram a violência física e ambiental sobre territórios e povos.
A esses fatores, somou-se ainda a desqualificação da autoridade científica. É emblemática, por exemplo, a demissão do dirigente do INPE em meio à polêmica dos índices do desmatamento na Amazônia, em 2019.
E o objetivo maior — a sustentabilidade de territórios e povos da Amazônia — perdeu consistência e materialidade diante da insegurança ambiental que se ilustra no recrudescimento de conflitos.
Uma retomada tumultuada
O atual Governo Lula não tem medido esforços para impor o comando e controle do estado brasileiro contra as agressões ambientais, mas os agentes constrangedores locais e seus associados nacionais desafiam e perturbam o ordenamento do meio ambiente.
O Relatório Conflitos no Campo da Comissão Pastoral da Terra de 2024 destaca que, desde 2023, o estado do Amazonas contabilizou 96 conflitos envolvendo mais de 75 mil pessoas, sendo 82 conflitos por terra, 4 ocupações e retomadas e 10 conflitos por água.
Agressões ambientais deliberadamente produzidas no governo Bolsonaro se constituem em fantasma constante que ronda os ecossistemas e biomas amazônicos. O obscurantismo desse período se estende no tempo e no espaço: recentemente no Congresso, por exemplo, ele se tornou explícito no tratamento misógino praticado contra a Ministra Marina Silva e com a recente votação que aprovou o Projeto de Lei 2159/2021.
Terras públicas não destinadas
Outro aspecto fundamental dos conflitos ambientais no Amazonas está assentado no regime fundiário. Hoje, o Amazonas detém um dos maiores passivos fundiários do Brasil, com 58,2 milhões de hectares de terras públicas ainda não destinadas. Isso equivale a 37,5% de seu território, segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-AM).
Essa vastidão de áreas sem destinação definida representa um desafio crítico para a governança ambiental e fundiária na Amazônia Legal, com implicações diretas para a conservação, o desenvolvimento sustentável e a redução de conflitos socioambientais.
A prioridade de conservação deveria ser clara: aproximadamente 56% dessas terras não destinadas estão em regiões de alta relevância ecológica, como zonas de conectividade entre Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs).
E o que torna o problema ainda mais grave é que cerca de 15% dessas áreas (8,5 milhões de hectares) estão irregularmente registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) como propriedades privadas. Isso é um sério indicativo de grilagem de terras ou sobreposição ilegal da propriedade, criando um cenário que alimenta disputas violentas por terras e dificulta a implementação de políticas públicas.
Alguns aspectos da legislação colaboram para o agravamento dos problemas: a falta de prazo limite para início da ocupação em terra pública passível de regularização; a ausência de exigência de compromisso de recuperação ambiental antes da titulação; e a ausência de vedação de concessão da regularização aos proprietários condenados pela prática de trabalho análogo à escravidão.
A regularização do regime fundiário no Amazonas é uma política vital para equilibrar conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Sem avanços concretos, o risco é de intensificação e aceleração do desmatamento ilegal, da grilagem de terras, da extração ilegal de recursos e da violência em zonas rurais, refletida nas taxas de conflitos socioterritoriais e no alto número de homicídios observadas nos últimos anos.
Mobilização social
Os conflitos socioterritoriais ambientais no Amazonas são, sobretudo, de ordem política. Advêm do caráter reacionário, negacionista e antiambiental que os períodos Temer-Bolsonaro impuseram ao Brasil, com efeitos perversos e contínuos no Amazonas, a maior porção da Amazônia Brasileira.
Resta à comunidade científica brasileira acentuar respostas políticas às evidências dessa perversidade. A defesa intransigente da democracia e da soberania brasileira oxigenam o debate ambiental e mobilizam a sociedade civil.
Em novembro, Belém sedia a COP 30, mais um evento mundial no qual a política ambiental brasileira disputa protagonismo e apoio. Territórios, povos e culturas amazônicas ecoarão suas vozes nesse embate de ideias sobre o futuro do planeta.
E as manifestações sociais pró-ambiente podem preparar os brasileiros para escolhas futuras na agenda política do país, da Amazônia e do estado Amazonas.