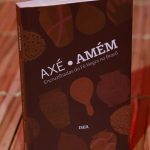A era do petróleo consolidou um modelo energético centralizado, baseado em grandes infraestruturas, cadeias globais de combustíveis fósseis e uma governança verticalizada. Esse sistema, ainda que eficiente em escala, moldou economias inteiras e consolidou estruturas de poder profundamente dependentes do petróleo. Este recurso se tornou não apenas combustível, mas fundamento geopolítico e símbolo de prosperidade. Com o tempo, no entanto, esse paradigma revelou-se incompatível com os imperativos contemporâneos de sustentabilidade, justiça social e segurança climática.
À medida que avançamos para uma economia de baixo carbono, torna-se evidente que a transição energética vai muito além da substituição de fontes fósseis por renováveis. Trata-se de uma transformação sistêmica, que exige reconfigurar modos de produção, consumo, transporte e financiamento; redefinir os papéis entre Estado, mercado e sociedade civil; e enfrentar desigualdades históricas que se reproduzem também no campo da energia.
É nesse contexto que emergem conceitos como equidade energética, justiça energética e pobreza energética, refletindo a necessidade de incorporar dimensões sociais e territoriais ao debate. A transição, aqui, não é apenas tecnológica — é política e civilizatória: significa reimaginar a relação entre energia, território e cidadania.
Tradicionalmente, o debate global sobre energia tem sido guiado pelo chamado Trilema Energético, conceito desenvolvido pelo World Energy Council. Esse modelo busca equilibrar três dimensões interdependentes: segurança energética, equidade no acesso e sustentabilidade ambiental. O desempenho de um sistema energético justo e eficiente depende da capacidade de conciliar essas três metas — muitas vezes em tensão entre si.
Contudo, diante da complexidade da transição contemporânea — marcada por crises climáticas, desigualdades socioespaciais e fragilidades de governança — o trilema mostra-se limitado. Ele não capta as condições contextuais que definem o sucesso ou o fracasso das políticas energéticas. No caso brasileiro, fatores como pobreza, vulnerabilidade territorial, capacidade institucional e planejamento urbano têm influência direta sobre os rumos da transição.
O Quadrilema Energético
É justamente para enfrentar essa lacuna que surge o conceito de Quadrilema Energético. O modelo amplia o trilema ao incorporar uma quarta dimensão — o contexto socioeconômico, ambiental e de governança —, permitindo uma leitura mais abrangente e realista dos desafios da transição energética.
Embora o Brasil figure entre as nações com maior participação de fontes renováveis em sua matriz, o estudo revela que a transição é profundamente desigual. As regiões Norte e Nordeste enfrentam déficits de acesso, qualidade e infraestrutura, enquanto Sul e Sudeste concentram os melhores indicadores. O Índice de Quadrilema Energético (EQI) se apresenta, assim, como uma ferramenta inovadora, capaz de capturar a multidimensionalidade das transições em contextos complexos e desiguais como o brasileiro.
Enquanto o trilema energético articula três dimensões fundamentais — segurança, equidade e sustentabilidade — o EQI acrescenta uma quarta: o contexto, que integra os seguintes eixos:
- Socioeconômico – pobreza, desigualdade (Índice de Gini);
- Infraestrutural – saneamento, gestão de resíduos e acesso a serviços urbanos;
- Governança – planejamento urbano, capacidade institucional e legislação ambiental.
O EQI sintetiza essas quatro dimensões em um índice único, permitindo uma avaliação integrada e territorializada dos sistemas energéticos. Ele revela que os principais entraves da transição no Brasil não estão apenas na dimensão ambiental, mas nos déficits históricos de contexto e segurança energética, que comprometem diretamente a equidade.
Paradoxalmente, regiões com alto potencial renovável — como o Nordeste — podem apresentar baixas pontuações no EQI, em razão de vulnerabilidades estruturais, pobreza e ausência de planejamento urbano. Questões críticas como conforto térmico e inclusão digital, essenciais para o bem-estar e a equidade, permanecem negligenciadas em todo o país, resultando nos menores índices em todas as regiões.
Esses resultados reforçam que a transição não se consolidará apenas por leilões de energia ou grandes empreendimentos centralizados. Ela exige uma governança territorializada, capaz de enfrentar as desigualdades infraestruturais (saneamento, digitalização), fortalecer a capacidade de planejamento municipal e assegurar que os benefícios da geração descentralizada se traduzam em desenvolvimento local e justiça energética — incluindo atenção à climatização, conectividade, qualidade de vida e questões de género evitando a reprodução de novos conflitos socioambientais.
Descentralização como resposta estrutural
O quadrilema energético sustenta que a descentralização deve ser o vetor estruturante da transição energética. Políticas e estratégias precisam reconhecer a diversidade regional e as capacidades locais de governança para garantir sustentabilidade e justiça.
A descentralização energética — baseada em geração próxima ao consumo, participação comunitária e autonomia regional — não é apenas uma opção técnica: é uma resposta estrutural ao modelo oil-centered que ainda domina a infraestrutura e a governança energética.
Esse modelo, centrado em grandes usinas, longas linhas de transmissão e controle verticalizado, mostrou-se vulnerável a crises hídricas, apagões, volatilidade de preços e, mais recentemente, aos curtailments— interrupções na geração renovável decorrentes de limitações na transmissão, inflexibilidade operacional ou desequilíbrios entre oferta e demanda.
Os curtailments são, portanto, sintoma da rigidez de um sistema planejado para fontes convencionais. Em um arranjo descentralizado, a energia tende a ser consumida onde é gerada, reduzindo perdas, congestionamentos e desperdício de recursos renováveis. A geração distribuída, associada a mecanismos de armazenamento e gestão de demanda, oferece caminhos para internalizar essa flexibilidade, transformando restrições do sistema em oportunidades de otimização. O EQI permite identificar as regiões onde a descentralização pode aliviar esses gargalos, combinando eficiência operacional com sustentabilidade ambiental.
O Quadrilema Energético não é apenas uma métrica: é um instrumento de planejamento para a transição energética. Ele mostra que não basta substituir combustíveis fósseis por renováveis — é preciso repensar a arquitetura do sistema energético, da governança às escalas de geração e redefinir modelos de desenvolvimento, governança e inclusão. Superar o quadrilema significa reconhecer que a sustentabilidade só será plena se também for social, territorial e institucionalmente justa.
O Brasil configura um cenário singular, no qual a transformação de sua abundância de recursos renováveis em um projeto de desenvolvimento endógeno apresenta-se como uma via estratégica para fortalecer capacidades locais, fomentar inovação e reduzir assimetrias regionais.
Nesse contexto, investimentos em ciência, tecnologia e formação técnica emergem como elementos centrais para converter vantagens contextuais e demandas por equidade em bases concretas de autonomia e resiliência sistêmica.
Dessa forma, a efetividade da transição energética brasileira não se mede exclusivamente pela expansão da capacidade instalada em megawatts, mas também pela democratização do acesso à energia, ao conhecimento e à infraestrutura subjacente — convertendo, assim, o potencial renovável em um vetor de cidadania e desenvolvimento inclusivo.
Read more: Cidades em transição: entenda o que é descentralização energética e o novo papel dos centros urbanos