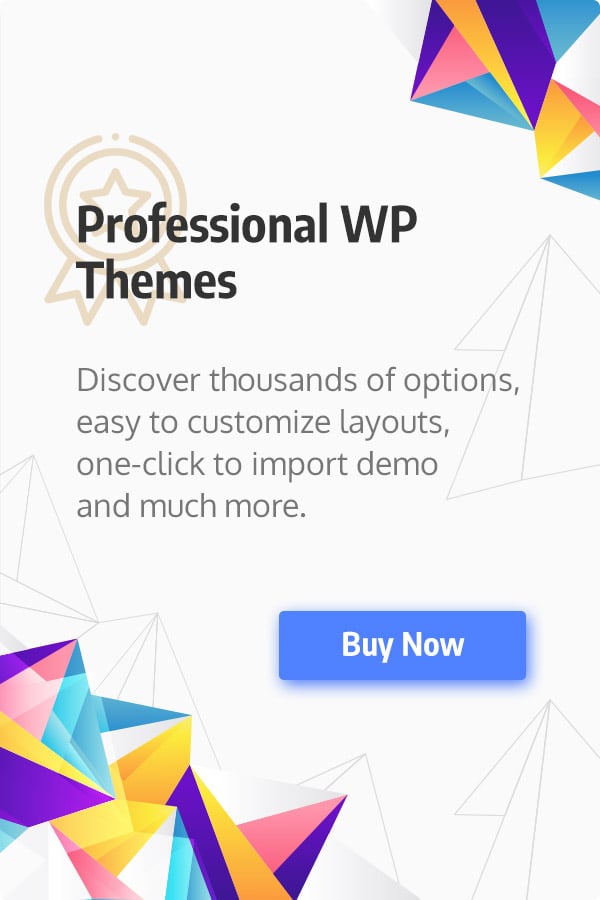Em 10 de junho de 2025, a ex-presidente argentina Cristina Kirchner foi condenada por corrupção. Um dia antes da sentença, mencionando a repressão a partidos, sindicatos e os 30 mil desaparecidos, Kirchner comparou o atual modelo econômico argentino ao que foi implementado na ditadura militar em seu país a partir de 1976. Embora não tenha afirmado diretamente que a Argentina vive uma ditadura, a referência sugere um paralelismo histórico com o regime autoritário. O caso Kirchner ilustra o uso, cada vez mais comum, de comparações com a ditadura como arma política, prática que transcende ideologias e esvazia nossa capacidade de reconhecer o autoritarismo real.
É um paradoxo democrático. A investigação “Vialidad”, iniciada em 2008 após denúncia da deputada Elisa Carrió e reativada em 2016, examinou contratos irregulares de obras públicas na província de Santa Cruz durante os governos de Cristina Kirchner, de 2007 a 2015. O processo tramitou por múltiplas instâncias judiciais ao longo de 17 anos, com os réus exercendo plenamente seu direito de defesa. A sentença foi resultado de julgamento com garantias legais, o que não acontece em uma ditadura, onde réus desaparecem e sentenças são predefinidas.
Brasil e Argentina, casos similares
Nesse sentido, podemos afirmar inclusive que a condenação de Kirchner guarda alguma similaridade com a de Luiz Inácio Lula da Silva: ambos foram processados em contextos polarizados e alegaram perseguição política, embora tenham tido garantias processuais plenas. Lula passou 580 dias preso antes que o Supremo Tribunal Federal anulasse suas condenações em 2021. Durante todo o processo, ele teve acesso a advogados, cobertura extensiva da imprensa e diversas instâncias de apelação, características impensáveis em regimes autoritários.
Essa tática retórica atravessa o espectro político. A estratégia de considerar um revés político “ditadura” não é exclusiva da esquerda. Apoiadores de Jair Bolsonaro, rotineiramente, descreveram governos do Partido dos Trabalhadores como “ditadura comunista”. Depois de Bolsonaro perder a eleição de 2022 por apenas 1,8 ponto percentual, seus seguidores invadiram prédios públicos em 8 de janeiro de 2023, alegando que o Brasil havia caído nas mãos do comunismo.
A banalização do conceito de ditadura é especialmente ofensiva quando contrastada com a experiência real dos países do Cone Sul com o autoritarismo militar, que censurou a imprensa, fechou o Congresso e institucionalizou a tortura. Esses regimes não processavam ex-presidentes por corrupção, mas eliminavam toda oposição por meio do terror estatal.
O mito das versões modernas de Simón Bolívar
O uso indiscriminado dessa retórica também se alimenta do temor exagerado de que qualquer presidente possa reinstaurar esse tipo de autoritarismo, temor que reside, parcialmente, no estilo de presidencialismo adotado. O sistema presidencialista teve origem na Revolução Americana, que estabeleceu que o poder seria melhor exercido se compartilhado entre três esferas (executiva, legislativa e judiciária), cada uma com atribuições próprias e capacidade de fiscalização sobre as demais.
Os países da América Latina importaram esse modelo, mas adaptando-o às suas próprias trajetórias históricas. Persiste o sentimento de que o presidente deveria ser um líder forte, capaz de encarnar uma suposta “vontade nacional”, como se fosse uma versão moderna de Simón Bolívar. Essa personalização excessiva do poder executivo pode fabricar a sensação de que o presidente teria mais peso que o Legislativo ou o Judiciário.
Por sorte, o sistema de freios e contrapesos continua funcionando. Certamente, a ideologia do mandatário direciona as políticas de governo. No entanto, com instituições consolidadas e efetiva separação de poderes, nenhum presidente extremista consegue, sozinho, impor uma reversão autoritária.
Os governos vêm e vão, mas as instituições permanecem. Quando cada derrota eleitoral se converte em “fim da democracia” ou cada decisão judicial adversa vira “perseguição”, o que realmente se destrói é a possibilidade do dissenso civilizado.
É justamente a falta de confiança nas instituições políticas que permitiram a chegada de outsiders ao poder em diferentes países. Os eleitores, cansados dos “políticos de sempre”, recorreram a alternativas radicais. A vitória de Javier Milei (2023) refletiu menos apoio ao anarcocapitalismo e mais exaustão com décadas de deslegitimação institucional. As eleições de Bolsonaro (2018) seguiram padrão similar, evidenciando o desgaste das esquerdas tradicionais.
O perigo não é que essas democracias se tornem, subitamente, ditaduras. Quando políticos estabelecidos repetidamente declaram o sistema como “falido”, corroem a confiança pública nas instituições. Os eleitores, convencidos de que o Estado não funciona, eventualmente recorrem a candidatos que prometem romper com o sistema tradicional.
A democracia argentina, com todas as suas imperfeições, demonstrou ser mais robusta do que seus críticos sugerem. Sobreviveu à crise de 2001, quando teve cinco presidentes em duas semanas, realizou múltiplas transferências pacíficas de poder e funcionou sob presidentes de esquerda e direita. O Brasil também mostrou resiliência institucional similar. O perigo real para a democracia não vem de nenhum presidente em particular, mas da erosão sistemática da confiança cidadã nas instituições.
A ironia é evidente. Aqueles que denunciam viver em “ditaduras” geralmente o fazem por meio da imprensa livre, mobilizando bases políticas e planejando campanhas eleitorais, liberdades impossíveis sob regimes autoritários reais. Cada alarme falso torna mais difícil reconhecer ameaças genuínas quando surgem. Uma geração nascida após as transições democráticas passou a ver o autoritarismo como recurso retórico, não como realidade vivida.
Restaurar o sentido da linguagem política não é luxo acadêmico, mas condição básica para a sobrevivência democrática. Quando “ditadura” perde sentido, a liberdade também se enfraquece. O futuro democrático depende de aceitar derrotas e confiar nas instituições, apesar das suas imperfeições.