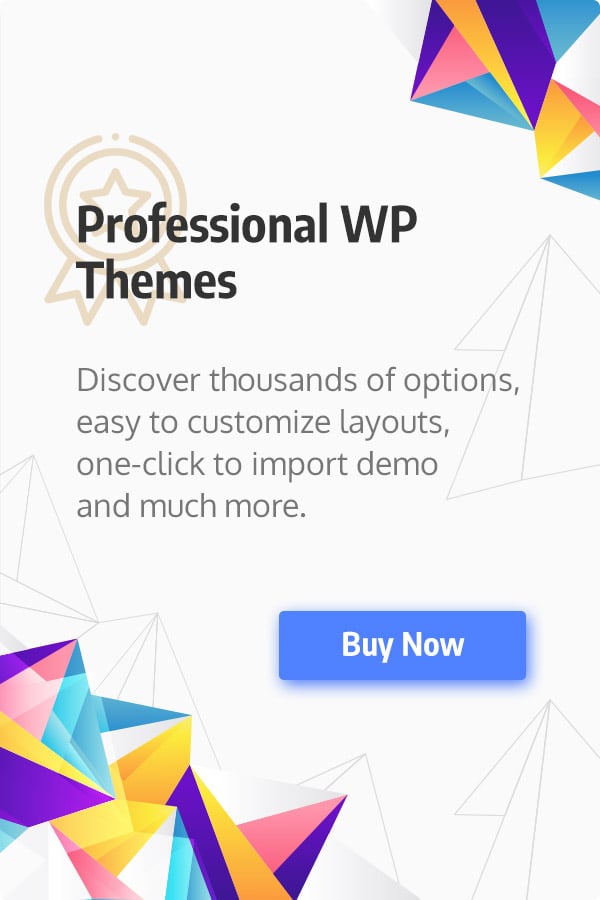No fim de semana dos dias 6 e 7 de novembro de 2025, milhares de brasileiros foram às ruas para chamar a atenção para a escalada de casos de violência contra a mulher. Desde então, um novo ciclo de histórias brutais tomou conta do noticiário. Entre eles, a mulher que saltou de um carro em movimento, depois de ser sequestrada e esfaqueada pelo ex. Outra que teve o corpo encontrado em uma lixeira, com as mãos e pés amarrados. Outra, uma mulher trans de 18 anos, que teve seu corpo levado até uma delegacia de polícia pelo motorista de aplicativo que confessou tê-la matado, sendo liberado em seguida. E outra que morreu após ser agredida pelo parceiro e cair do 10º andar de um edifício.
Os números de violência de gênero são preocupantes há algum tempo no país, mesmo com leis que aumentam as penas para agressores. Então, o que explica o que parece um ciclo sem fim de casos sendo reportados agora? Para entender esse cenário, a Global Voices conversou com Isabella Matosinhos, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Global Voices (GV): Nas últimas semanas, o noticiário nacional foi tomado por casos de violência contra a mulher por todo o país. O que explica esse momento atual?
Isabella Matosinhos (IM): O que estamos vendo nas últimas semanas não é exatamente um aumento súbito da violência, mas a convergência entre três fatores: números historicamente altos, maior visibilidade pública e casos recentes de extrema crueldade, que elevam a violência a uma potência muito alta.
A violência contra mulheres no Brasil não começou agora – ela já vinha se mantendo em patamares muito elevados. O que muda neste momento é que alguns casos se tornaram particularmente brutais e simbólicos, revelando com mais clareza a gravidade das dinâmicas de gênero que estruturam essa violência. Esses episódios chocam pela crueldade, pela repetição e pela sensação de que poderiam ter sido evitados.
Ao mesmo tempo, a sociedade está menos disposta a silenciar. Há maior mobilização social, mais atenção da imprensa e uma consciência crescente de que essas violências não são “casos isolados”, mas parte de um padrão estrutural. Por isso, muitos interpretam o momento como uma explosão – quando, na verdade, é a combinação de violência persistente em níveis altos, casos recentes de grande impacto emocional e uma intolerância social também crescente.
Em síntese, não estamos apenas diante de mais um ciclo de notícias sobre violência contra mulheres. Estamos diante de episódios que escancaram a brutalidade do problema e de uma sociedade que passou a reagir de maneira mais firme, exigindo respostas mais consistentes do Estado.
GV: De acordo com o mais recente Anuário do FBSP, com 1.492 feminicídios registrados em 2024, o Brasil chegou ao maior número já observado desde 2015, quando a lei do feminicídio entrou em vigor. Como isso pode ser lido?
IM: Esse é um indicador muito preocupante, porque mostra que, dez anos após a lei, ainda não conseguimos reduzir a mortalidade de mulheres por razões de gênero. O feminicídio é o ponto final de uma escalada de violências que começa muito antes, na violência psicológica, na ameaça, no controle, na violência sexual.
Os números recordes mostram que, apesar de termos avançado em legislação, ainda há fragilidades profundas na capacidade do Estado de prevenir, proteger e interromper o ciclo da violência antes que chegue ao extremo. Também revelam desigualdades estruturais de gênero que permanecem muito presentes no Brasil.
GV: Passados 10 anos da lei, como avalia a aplicação dela na prática pelos estados? Pode haver subnotificação por nem sempre identificarem homicídios desse tipo pelo nome de feminicídio?
IM: Sim. A aplicação da lei ainda é desigual entre os estados e há subnotificação relevante.
Para que um crime seja tipificado como feminicídio, é necessário reconhecer a motivação de gênero e contextualizar aquele homicídio dentro de dinâmicas de violência prévia. Isso depende tanto de investigação quanto de formação adequada de quem registra, investiga e denuncia o caso.
Existem estados com boa classificação e estados onde homicídios de mulheres ainda entram apenas como “homicídio simples”, mesmo quando há evidências claras de que se trata de feminicídio. Em 2024, a nível Brasil, 40,3% dos homicídios femininos foram classificados como feminicídio. Em alguns estados, esse percentual é superior a 60%, o que pode indicar uma leitura dos casos com um olhar apurado para a violência de gênero, por parte das polícias. Em outros estados, o percentual não chega a 15%. Além da violência em si, estamos falando também de invisibilidade estatística, que compromete o planejamento de políticas públicas.
Gv: Em 2024, uma nova lei tornou o feminicídio crime próprio, aumentando as penas previstas anteriormente. Ainda assim, temos o cenário atual. Como podemos ler isso?
IM: O aumento de pena, por si só, não reduz feminicídio. Se reduzisse, seria muito simples de resolver o problema. Mas isso não acontece. A violência contra mulheres se alimenta de fragilidade institucional e normas sociais que toleram o machismo e o controle masculino.
Ou seja: sem políticas preventivas, sem rede de proteção estruturada, sem investigação rápida e sem medidas protetivas efetivas, a punição posterior tem impacto limitado.
A lei é importante, porque afinal ainda recorremos ao sistema penal para responsabilização de pessoas que cometem crimes, e porque ela passa a ideia de que nós, como Estado, não toleramos a violência de gênero. Mas ela atua no final do processo de violência. Para reduzir feminicídios, precisamos agir no começo – na violência psicológica, no controle, na ameaça, nos sinais que antecedem o crime para, assim, impedir a escalada da violência e o desfecho letal que é o feminicídio.
GV: Já é possível fazer uma estimativa dos números de 2025 em comparação aos do ano anterior?
IM: Ainda é cedo para qualquer projeção, porque dependemos dos dados consolidados das polícias civis. A tendência dos últimos anos tem sido de estabilidade em patamares muito altos ou algum crescimento – e isso mostra que as políticas existentes não têm sido suficientes para conter a violência letal contra mulheres.
GV: Um cartaz erguido no protesto em São Paulo dizia: “Feminicídio começa no discurso”. Ascensão de discursos misóginos, na política e através de influencers, tem um peso no cenário que vemos hoje no Brasil?
IM: Sim, tem peso, e não é pequeno. O feminicídio não começa no dia do crime; ele começa nas hierarquias de gênero que estruturam a sociedade. Começa quando a violência psicológica é minimizada, quando o controle do parceiro é naturalizado como ciúme, quando piadas ou comentários degradantes sobre mulheres são tratados como humor.
Discursos públicos misóginos – especialmente vindos de figuras políticas – legitimam esse ambiente. Eles reforçam a ideia de que homens têm direito sobre corpos e decisões das mulheres, e enfraquecem esforços de prevenção. O discurso não mata sozinho, mas ele cria terreno fértil para que a violência aconteça e seja tolerada.
GV: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros homens, figuras conhecidas em várias áreas, têm levantado a questão do papel dos homens nessa discussão. Olhando para os dados e a realidade de políticas públicas, como você avalia isso?
IM: Trazer os homens para a discussão é imprescindível, porque a violência contra mulheres, via de regra, tem como autor um homem. O modo como formulamos os dados também importa. Quando dizemos “mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2024”, estamos descrevendo um fato. Mas quando dizemos “em 2024, homens mataram mais de 1.400 mulheres”, estamos apontando responsabilidade. Isso desloca o foco: do comportamento da vítima para a ação do agressor.
E a participação dos homens na prevenção passa por reconhecer que a violência não começa no tapa ou no soco: começa quando eu rio de uma piada machista, quando compartilho um vídeo íntimo sem consentimento, quando justifico o controle sobre a roupa, o corpo ou a liberdade de uma mulher. Sem envolvimento deles, não há mudança cultural duradoura.
GV: No último anuário é apontado que a violência contra as mulheres segue sendo um grande desafio para as políticas públicas, especialmente no campo da segurança pública. Quais são as dificuldades observadas por vocês?
IM: No campo dos dados, enfrentamos desafios que começam na forma como as polícias civis registram as informações. O trabalho que fazemos no FBSP – de coletar, padronizar e tornar comparáveis os dados das 27 unidades da federação – já revela a dimensão do problema: os boletins de ocorrência nem sempre seguem um mesmo padrão e a qualidade do preenchimento é muito desigual.
Ainda assim, hoje conseguimos traçar um perfil mínimo das vítimas de feminicídio, como idade e raça, mas seria igualmente importante conhecer o perfil dos agressores – algo que, em teoria, deveria constar nos registros, especialmente porque a maior parte dos feminicídios ocorre no contexto de uma relação íntima de afeto. No entanto, esses campos são preenchidos de maneira muito precária ou simplesmente não são informados, o que impede análises mais precisas e a formulação de políticas focadas no agressor.
Outro exemplo de fragilidade é a tentativa de identificar quantas vítimas de feminicídio tinham uma Medida Protetiva de Urgência vigente no momento do óbito. Alguns estados não conseguiram fornecer a informação, ainda que este seja um dado crucial para entender falhas de proteção. Essas lacunas mostram que o país precisa qualificar não apenas a produção dos dados, mas também a capacidade institucional de integrá-los e usá-los como ferramenta de prevenção.
No campo da implementação das políticas públicas, o desafio é semelhante: a Medida Protetiva de Urgência, prevista pela lei Maria da Penha, é um recurso poderoso para evitar a escalada da violência, mas os feminicídios de mulheres que estavam sob MPU evidenciam falhas na fiscalização e no monitoramento. A proteção não se encerra na decisão judicial; ela depende de articulação entre polícia, Judiciário, assistência social e saúde, além de equipes com capacidade real de acompanhar o risco.
Somam-se a isso as fragilidades da rede de acolhimento – delegacias especializadas insuficientes, serviços de assistência sobrecarregados, falta de abrigos e equipes reduzidas. Quando a rede não funciona de forma coordenada, a responsabilidade pela própria proteção recai novamente sobre a mulher, o que é insustentável frente ao risco que ela enfrenta.
Em síntese, os principais obstáculos estão na qualidade e integração dos dados, na fiscalização das medidas protetivas e na capacidade do Estado de oferecer acolhimento e proteção contínua. Esses elementos são fundamentais para prevenir o feminicídio, mas ainda não estão plenamente consolidados no país.
GV: E quais seriam os caminhos para avanços e reverter essa tendência a partir daqui?
IM: O primeiro é fortalecer a prevenção, com políticas que atuem antes da violência escalar: educação para igualdade de gênero, formação de profissionais da escola, saúde e assistência para identificar sinais precoces e orientar caminhos de proteção. Sem prevenção, o Estado chega sempre tarde.
O segundo é garantir proteção rápida e eficaz às mulheres em situação de risco. Isso envolve qualificar a rede de acolhimento, ampliar abrigamento, e garantir que isso exista não só em grandes centros urbanos, mas que esteja espalhado em todo tipo de município no país. Passa também por monitorar o cumprimento de medidas protetivas e criar fluxos integrados entre rede de acolhimento, assistência e Justiça. A vida de muitas mulheres depende da agilidade dessa resposta.
O terceiro é aprimorar investigação e responsabilização. Delegacias especializadas, perícia disponível, análise de risco estruturada e equipes preparadas para lidar com violência de gênero são essenciais para romper ciclos de violência e reduzir impunidade.
Por fim, o país precisa investir em dados de qualidade, integrados e atualizados, capazes de orientar políticas públicas e monitorar resultados. Sem diagnóstico preciso, não há política eficaz. Reverter a tendência exige articulação intersetorial, financiamento estável e compromisso político contínuo. Não há solução simples, mas há um caminho possível que passa por fazer do enfrentamento à violência contra a mulher uma prioridade de Estado, não de governo.